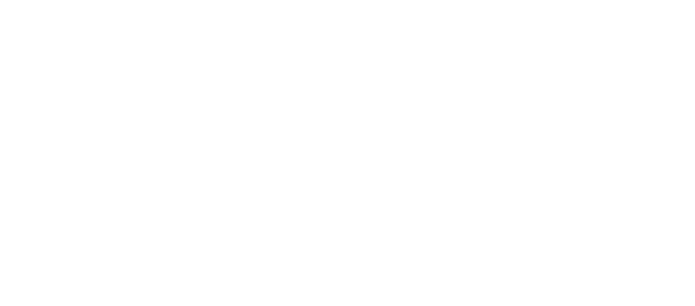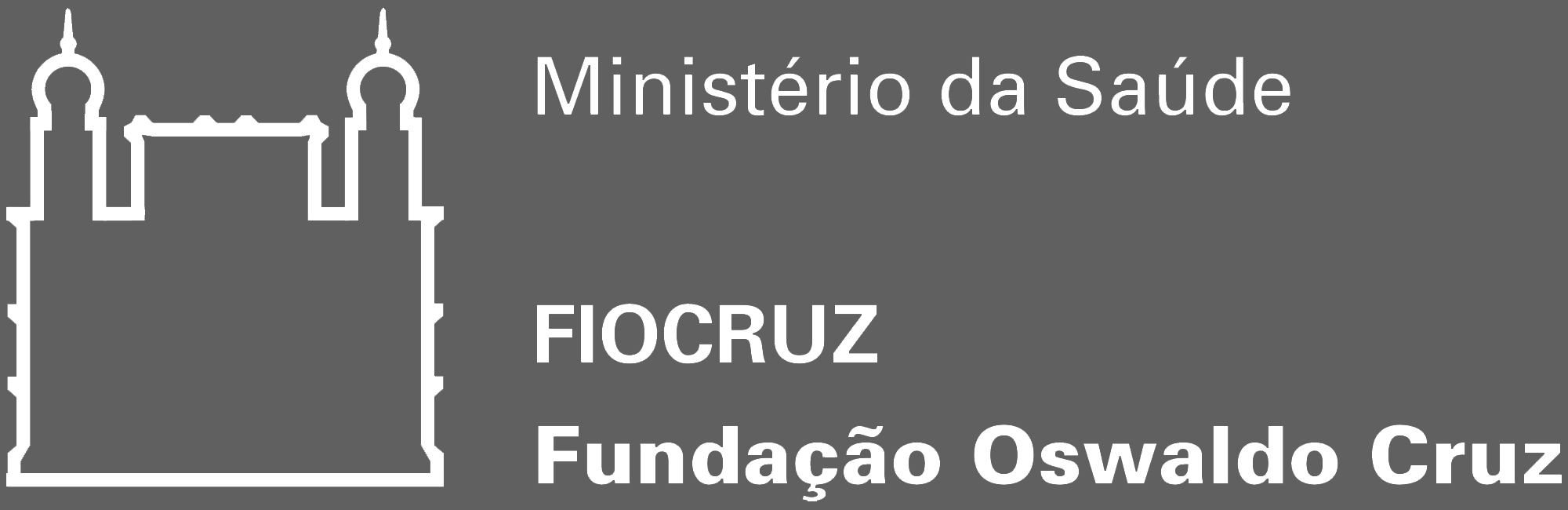As epidemias não são novidades em nossa história. Alguns exemplos mais recentes são a AIDS, o SARS e a COVID-19. Apesar de recorrentes, as comparações entre os episódios epidêmicos exigem cautela, pois os contextos em que ocorreram são completamente diferentes. Nesse sentido, uma das principais contribuições da História implica em identificar as condições sociais que, historicamente, tornam algumas sociedades mais vulneráveis a uma pandemia em cada conjuntura. Considerando, por conseguinte, que o processo de enquadramento de uma epidemia, isto é, a elaboração de esquemas interpretativos e classificatórios que significam doença específica, ao mesmo tempo também molduram diversas situações da vida social. Por conta disso, a epidemia pode pressionar e explorar as divisões sociais existentes na sociedade seja por religião, raça, etnia, classe ou identidade de gênero.
Para Rosenberg (1992), as epidemias são dramas sociais que podem se desdobrar em alguns atos: negação, reconhecimento, explicação e resposta. O reconhecimento gradativo de uma epidemia lança o segundo ato, no qual as pessoas exigem e oferecem explicações, tanto mecanicistas quanto morais. Franco (2014) demonstrou, por exemplo, como a epidemia de cólera no Espírito Santo, no século XIX, mobilizou na sociedade a busca pelo perdão da graça divina que se materializou na realização de penitências, orações e procissões que foram seguidas a risca pela sociedade.
O próximo ato no drama de uma epidemia seria a busca de explicações, o que em alguns casos mobiliza a sociedade na busca por culpados. Como é o caso da escolha de bodes expiatórios como explicação para a doença. Esses aspectos da resposta à epidemia são tão característicos que parecem inevitáveis. Exemplos não nos faltam. Na Europa medieval, os cristãos culparam os judeus pela peste bubônica no século XIV. Os nativos de Nova Iorque culparam os imigrantes irlandeses pela cólera em meados do século XIX. Os irlandeses estavam entre os maiores números de imigrantes para Nova York no período. E, mais perto do nosso século, verificamos que especialistas conservadores identificaram a AIDS com grupos já estigmatizados, especialmente homens homossexuais.
Essas explicações diversas, por sua vez, podem motivar intervenções que podem ser tão dramáticas e perturbadoras quanto a própria doença. Como demonstrou Huffard Jr. (2013), quando analisou as epidemias de febre amarela no sul dos Estados Unidos – região marcada pelos latifúndios e violenta opressão contra a população afroamericana. Durante a epidemia, pessoas afro-americanas foram impedidas de utilizar as empresas ferroviárias e, portanto, de se locomover para fora das regiões onde a febre amarela se propagava. Como consequência, a ferrovia encontrou uma de suas linhas ferroviárias mais essenciais sob terrível ameaça de destruição, com parte da população local de Callahan, no sul daquele país, bloqueando ferrovias e ameaçando destruir os trilhos e interromper o tráfego para sempre.
Muitas tensões, contradições e estigmas de uma sociedade vêm à superfície em tempos de epidemia. Esses aspectos podem impedir uma compreensão mais profunda sobre esse processo e seus efeitos, comprometendo a identificação da precariedade e alcance dos sistemas públicos de saúde, como as relações ecológicas entre agentes humanos e não humanos, as intervenções provocadas na natureza e a disparidade entre nações ricas e pobres entre outros elementos.

Ramon Souza é doutor em histórias das ciências e da saúde. Foto: arquivo pessoal.
Em muitos casos, desde o batismo da doença, podemos perceber como aspectos sociais podem se tornar parte da estrutura do conhecimento médico sobre determinada epidemia.
A epidemia de gripe de 1918, por exemplo, que é recorrentemente destacada na literatura como uma das mais letais na história recebeu a alcunha de “gripe espanhola”. Essa denominação pode atribuir à epidemia de gripe de 1918 uma ideia equivocada acerca de sua origem. Apesar da denominação, a gripe inicialmente se manifestou nos Estados Unidos, América do Norte e sua propagação foi favorecida pelo contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) diante a intensa circulação das tropas e o acentuado movimento migratório durante o período do conflito permitiram que a epidemia se tornasse uma calamidade mundial. Como a Espanha esteve neutra durante o conflito bélico, a imprensa espanhola circulou noticias sobre a gripe.
A doença atingiu as mais distantes regiões do globo, desde a Ásia, América, África e até mesmo os arquipélagos da Oceania. Nas diversas regiões em que incidiu, a doença recebeu diferentes nomes. Entre os norte-americanos, era conhecida como “febre dos três dias” ou “morte púrpura”; entre os franceses, como “bronquite purulenta”; para os italianos, era a “febre das moscas de areia”; pelos alemães, era chamada de “febre de Flandres”; entre os espanhóis, de “a dançarina”; para os portugueses, era “a pneumônica”; e os senegaleses a chamavam de “gripe brasileira”. No Brasil, onde os primeiros casos foram identificados em setembro de 1918, os nomes mais comuns para a doença foram “gripe espanhola” e influenza.
Em fevereiro de 1957, uma epidemia provocada pelo vírus influenza do subtipo A (H2N2) se espalhou pelo globo desde a China. A gripe de 1957 foi a segunda grande epidemia do século XX. O seu grau de letalidade foi menor do que o da epidemia de gripe de 1918 e, ao contrário do que do contexto em que ocorreu essa última, a tecnologia biomédica pôde produzir repostas eficazes à situação. Assim, se na epidemia de 1918 as estimativas indicam entre 20 e 100 milhões de óbitos, quarenta anos depois o mundo já contava com antibióticos e vacinas contra o vírus influenza que, por sua vez, foi identificado e isolado por cientistas britânicos na década de 1930. A vacina contra a epidemia de 1957 foi desenvolvida no mesmo ano na Inglaterra e se tornou a principal apostas das autoridades mundiais de saúde no controle da epidemia. Essa doença ficou conhecida como “Gripe de Singapura”, “Gripe Indiana” e, principalmente, “Gripe Asiática”.
Mais recentemente, um exemplo relacionado ao batismo de doenças ocorreu no contexto da epidemia de COVID-19 que, no final de 2019, se espalhou da cidade de Wuhan, na China, para o Mundo. Na ocasião, o ex-presidente norte-americano Donald Trump se referiu ao coronavírus vírus SARS-CoV-2 como “vírus chinês”. Em resposta, o governo chinês acusou Trump de politizar o vírus. Em tempos de emergência da China como uma liderança econômica global, torna-se muito inteligível o esforço de associar o vírus e seus efeitos mais dramáticos exclusivamente aos chineses.
Os exemplos mencionados deixam evidente que denominar uma doença tendo em conta o seu possível local de origem ou suas formas de transmissão, além de poder levar ao equívoco, pode reforçar preconceitos. Assim, caminhando para um último ato da dramaturgia das epidemias, a experiência da epidemia é acompanhada pela retrospecção e reflexão coletiva sobre o ocorrido, bem como a adoção de medidas sanitárias permanentes. Por isso, nessa última etapa, o historiador, que é um lembrador, não pode deixar de destacar que a xenofobia e a desinformação que causam, com efeito, pânico e desordem como elementos recorrentes no enquadramento de uma epidemia que podem ter efeitos perversos, quando não reforçar um padrão que sistematicamente tem seus efeitos mais dramáticos em determinados grupos étnicos e sociais, como nos exemplos citados sobre imigrantes.
Como o fim de uma epidemia depende de muitos fatores constituindo-se como um processo ao mesmo tempo social, político, biológico e cultural, não há saída individual diante epidemias. Por isso, o enquadramento de uma epidemia é mais bem compreendido quando é relacionado ao modo como as sociedades enfrentam, além da doença, os problemas sociais como o racismo, as desigualdades econômicas e sociais em cada conjuntura.
Referências Bibliográficas
FRANCO, Sebastião Pimentel. Pânico e terror: a presença da cólera na Província do Espírito Santo (1855-1856). Almanack, n.7, p.117-136, 2014.
HOCHMAN, Gilberto. Quando e como uma doença desaparece. A varíola e sua erradicação no Brasil, 1966/1973. Revista brasileira de sociologia, v. 9, n. 21, p. 103-128, 2021.
JONES, David S. COVID‐19, history, and humility. Centaurus, v. 62, n. 2, p. 370-380, 2020.
FRANCO, Sebastião Pimentel. Pânico e terror: a presença da cólera na Província do Espírito Santo (1855-1856). Almanack, n.7, p.117-136, 2014.
HUFFARD JR., R. Scott. Infected rails: yellow fever and southern railroads. The Journal of Southern History, v.79, n.1, p.79-112, 2013.
ROSENBERG, Charles E. Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
SOUZA, Ramon Feliphe. O trem e a “senhorita espanhola”: a epidemia de gripe em Diamantina, 1918. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 30, p. e2023024, 2023.
Como citar este texto
SOUZA, Ramon Feliphe. Sobre epidemias, seus nomes e marcadores sociais da diferença. Site do Observatório História e Saúde – COC/Fiocruz, 2024. Disponível em: <https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/sobre-epidemias-seus-nomes-e-marcadores-sociais-da-diferenca/>.
Leia também