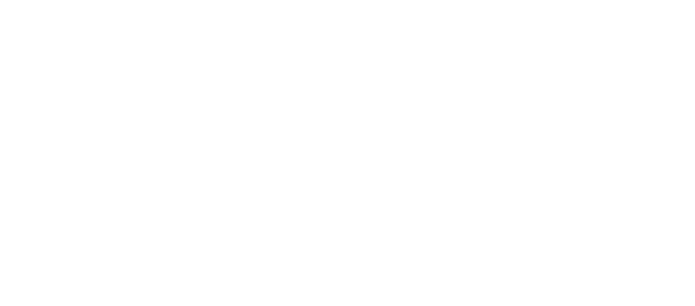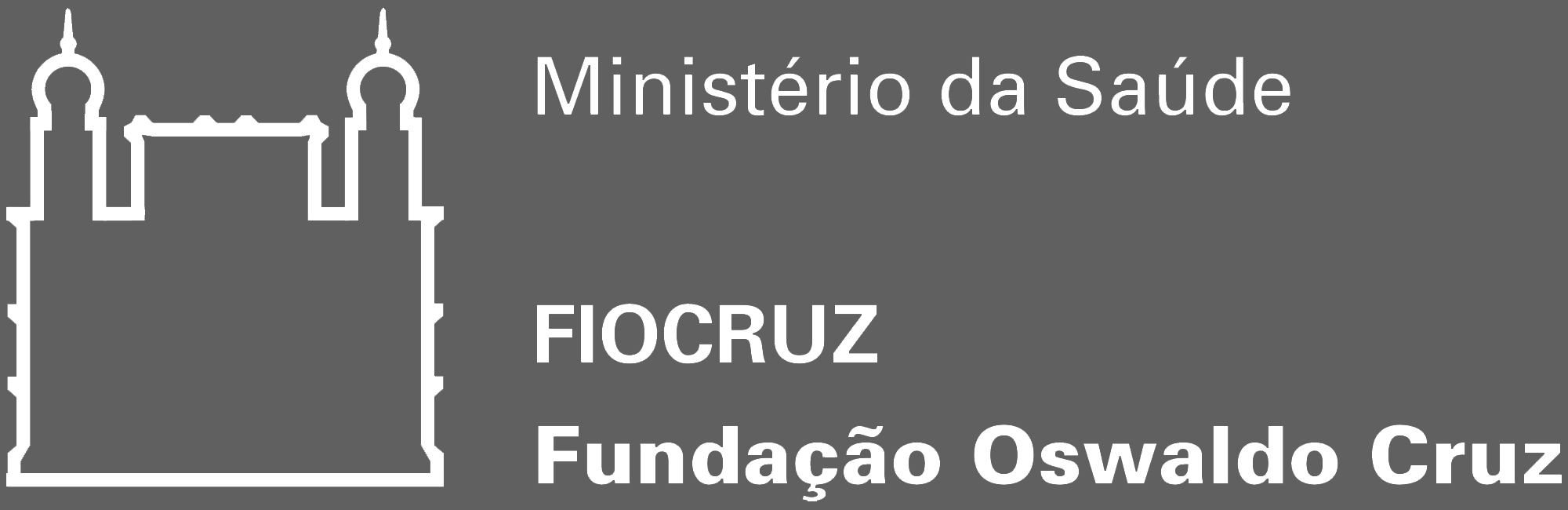A alimentação transcende necessidades biológicas, inserindo-se em campos culturais, sociais e históricos, constituídos por representações, disputas e transformações sociais atravessados por dimensões simbólicas, econômicas e políticas. A alimentação transforma a natureza em cultura, funcionando como linguagem que expressa modos de vida e hierarquias, além de exercer um papel fundamental na formação de memórias, identidades e resistências. Por outro lado, alimentação é uma prática composta por significados sociais e culturais, vinculando-a a políticas públicas e determinantes de saúde (Montanari, 2008; Carneiro, 2003; Canesqui, 1988).
O objetivo deste texto é refletir, em perspectiva histórica, sobre as interpretações políticas, científicas e institucionais relacionadas à alimentação amazônica, considerando os paradigmas que a moldaram. Analisa-se a construção histórica de representações da dieta regional no pensamento e no imaginário social sobre a Amazônia, seus povos, práticas e hábitos, frequentemente marginalizados frente ao sistema moderno-colonial e capitalista (Porto-Gonçalves, 2017).
Também se examina a atuação de autoridades científicas, sanitárias e de médicos nutrólogos que, sob paradigmas da Ciência, formularam interpretações cientificistas e políticas que reforçaram concepções colonialistas, e consequentemente servindo de base para programas estatais de saúde pública voltados a “correção” dos hábitos alimentares locais e enquadrar a região no projeto de desenvolvimento econômico nacional.
Paralelamente, observa-se nas tentativas de homogeneização alimentar da região a imersão de formas de resistência popular que reafirmam a cultura e a soberania alimentar amazônica. Por meio da valorização de elementos da dieta regional em cardápios institucionais, tornando-se uma estratégia de afirmação identitária e de enfrentamento à marginalização dos hábitos alimentares da Amazônia no passado e no tempo presente.
Na história do Brasil, a alimentação desempenhou papel estruturante na sociedade que instituiu hierarquias socioculturais baseadas em valores eurocêntricos. Autores como Gilberto Freyre (2003) e Luís da Câmara Cascudo (1967) ofereceram interpretações relevantes sobre o papel da alimentação na formação da sociedade brasileira, reconhecendo a centralidade das culturas indígenas, africanas e europeias no contexto da colonização, integrando as práticas alimentares em narrativas conciliadoras e homogêneas, que desconsideram as condições hierárquicas diante do sistema colonial baseado na exploração dos povos nativos e africanos (Maciel, 2004).
Historicamente, mesmo diante da riqueza ecológica, sociocultural e diversidade alimentar, os hábitos e costumes alimentares da Amazônia foram marginalizados e a região condenada à fome, à desnutrição, miséria e pobreza. Relatos de viajantes e naturalistas do século XVII classificavam a dieta local como “exótica” e reduziram a diversidade culinária amazônica a uma suposta “monotonia alimentar” da mandioca. Reproduzindo perspectivas colonialistas que desvalorizavam os saberes indígenas e legitimavam a imposição de padrões europeus considerados “superiores” e “civilizatórios” (Muniz, 2015).
A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), prevista para Belém, capital do Estado do Pará, reacendeu debates sobre o futuro ambiental da região e do mundo. A escolha de Belém como cidade-sede expôs os problemas das especulações imobiliárias e as deficiências das infraestruturas urbanas da cidade. Do mesmo modo, suscitou discussões que relacionam a cultura alimentar amazônica à ciência da nutrição e às políticas públicas contemporâneas.
Nesse contexto, a exclusão inicial de alimentos simbólicos, como açaí, tucupi e maniçoba, sob a justificativa de “alto risco de contaminação”, gerou forte repercussão negativa na sociedade Amazônica. Movimentos populares, chefs paraenses e representantes da sociedade civil interpretaram a medida como marginalização simbólica da identidade alimentar amazônica. A mobilização resultou na publicação da errata que reinseriu os alimentos no cardápio oficial dos restaurantes da Conferência e estabeleceu a obrigatoriedade de aquisição de pelo menos 30% dos insumos da agricultura familiar, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

Nas embalagens o tucupi, molho típico da culinária amazônica. Foto: Lana Santos / FAPEAM.
Esse episódio evidencia a permanência de uma problemática histórica: a marginalização da alimentação amazônica por discursos políticos, científicos e institucionais que a submetem a padrões externos de legitimidade. O caso da COP30 mostra como dilemas coloniais ainda atravessam a forma de reconhecimento da cultura alimentar da Amazônia em arenas globais.
Osvaldo Orico (1972) ao reivindicar a cozinha amazônica como expressão autêntica da biodiversidade e da criatividade amazônica, denunciava a marginalização de seus saberes e práticas frente à valorização de outras cozinhas brasileiras. Essa crítica permanece atual, pois mesmo em debates internacionais sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, e os sistemas alimentares locais continuam invisibilizados diante das discussões globais.
A cozinha amazônica reconhecida por Freyre (1933) como espaço de expressão da mestiçagem cultural, reconhecendo a “contribuição” indígena, mas inserindo-a em narrativa harmonizadora que atenua as violências coloniais sobre os povos originários. Do mesmo modo, Câmara Cascudo (1967), produziu um inventário das origens indígenas de ingredientes e preparos, valorizando técnicas e inovações locais, mas ainda enquadrando-as em perspectiva folclórica e universalizante. Ambas as interpretações se limitaram a um prisma colonialista que desconsiderava as relações de poder e as cosmologias afro-indígenas (Maciel, 2004).
A culinária amazônica, contudo, transcende o campo gastronômico, conglomerando modos de vida profundamente articulados à floresta, aos rios e aos ciclos sazonais. Alimentos como mandioca e seus derivados, açaí, maniçoba, peixe e frutos nativos não apenas compõem a dieta regional, mas também se entrelaçam a cosmologias e práticas de sociabilidade, assumindo função simbólica e política (Castro, 1996). Constituindo-se como instrumentos de resistência frente às pressões do agronegócio e à universalização alimentar, configurando a alimentação indígena como uma prática viva, inseparável da luta por território, da defesa da soberania alimentar e da preservação ambiental e cultural.
Todavia, a lógica colonialista alimentar que historicamente classificou tais elementos como “atraso” ou “exótico”, ainda persiste, agora atualizada em discursos de riscos sanitários e de contaminação de substâncias tóxicas, como por exemplo, o ácido cianídrico presente na mandioca altamente nocivo aos seres humanos. Dessa forma, subalternizando os saberes e tecnologias herdadas dos povos originários, além de subordinação da produção regional a padrões agroindustriais e ao mercado global.
Na década de 1940, com a institucionalização da Ciência da Nutrição no Brasil, a alimentação amazônica passou a ser avaliada sob novos referenciais científicos. Médicos e nutrólogos caracterizaram a alimentação das populações amazônicas nutricionalmente insuficiente, reduzindo-a a subsistência. Nesse contexto, destacam-se Josué de Castro e Dante Costa, cujas reflexões articularam a alimentação, saúde e políticas públicas (Andrade: Hochman, 2015).
Josué de Castro (1980), argumentou que a fome não resulta da escassez natural, mas de desigualdades políticas e econômicas estruturais. Ao analisar a Amazônia, Castro identificou o paradoxo de uma região abundante em recursos naturais e marcada pela miséria e desnutrição. Dante Costa (1965), sistematizou dados sobre a dieta regional, reconhecendo a importância cultural de alimentos como mandioca, açaí e castanha, mas destacando carências nutricionais que associavam a problemas de saúde pública e desnutrição na amazônia.
As análises de Castro e Costa convergem ao mostrar que a fome na Amazônia é fenômeno histórico e estrutural, produto de um modelo de exploração colonial. Embora tenham sido fundamentais para inserir a região no debate científico e político, ambos reforçaram perspectivas universalizantes ao enfatizar déficits nutricionais, marginalizando a diversidade cultural e simbólica da dieta local.
Nesse contexto, instituições nacionais e internacionais como o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e a Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) desempenharam papel ambíguo no desenvolvimento de ações nutricionais, de saúde pública e assistência alimentar na Amazônia nos anos de 1940 a 1960. Seus programas buscaram combater deficiências nutricionais e difundir padrões modernizadores, relegando os alimentos tradicionais a estatuto secundário (Campos, 2006, Andrade, 2012; Dias, 2025)
Entretanto, a resistência da população local determinou a inserção de produtos da dieta local, como a farinha de mandioca nos cardápios do Restaurante Popular do SAPS, apesar da condenação dos paradigmas nutricionais, ilustrando os espaços de negociação e resistência cultural protagonizados pela população amazônica. Tais resistências garantiram a permanência da dieta regional, mesmo sob pressão institucional para transformação dos hábitos alimentares da Amazônia (Dias, 2025).
À luz da trajetória histórica, a polêmica da COP30 adquire sentido mais profundo. A exclusão inicial de alimentos amazônicos não se reduz a uma medida técnica de segurança; expressa continuidade histórica de desvalorização da culinária local e de marginalização dos hábitos e costumes da alimentação amazônica. A reinserção dos produtos no cardápio oficial da Conferência demonstrou a força da resistência cultural e da reafirmação da identidade alimentar amazônica.
Nesse embate, a presença de açaí, tucupi e maniçoba na mesa da COP30 expôs disputas históricas de projetos distintos de sociedade, de um lado, um modelo universalizante que se utiliza do poder da retórica “de risco” ou “inadequados” para classificar os alimentos locais e hierarquizar a alimentação; de outro, um modelo que promove a defesa da diversidade cultural e da soberania alimentar, simbolizando a persistência da Amazônia em afirmar sua cultura frente a imposições colonialistas que a reduziram à fome, pobreza e atraso. Reafirmando alimentação como campo de resistência e de cidadania, expressando construção históricas de saberes e tecnologias alimentares.
Assim, refletir sobre a alimentação amazônica significa reconhecê-la como campo de disputas simbólicas, políticas e econômicas, que transcendem estatísticas nutricionais e sanitárias. Compreendendo que a Amazônia, periferia da modernidade, é uma região com civilização própria, portadora de saberes, práticas e tecnologias capazes de dialogar com os desafios contemporâneos, em defesa da diversidade alimentar projetada como caminho de justiça social, ambiental e cultural, que tensiona paradigmas excludentes.
A mobilização social pela reinserção dos alimentos da Amazônia na mesa da COP30, resultou na promoção de políticas alimentares sustentáveis que valorizem as cozinhas locais, além de reconhecer que seus sistemas alimentares oferecem alternativas concretas à crise climática e aos modelos insustentáveis de produção. Garantindo territórios, identidades, biodiversidades e a soberania alimentar.
Referências Bibliográficas
ANDRADE, Rômulo de Paula. Amazônia na era do desenvolvimento: saúde, políticas e destruição, 1930-1966. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2023
ANDRADE, Rômulo de Paula; HOCHMAN, Gilberto. A civilização da mandioca sob os cuidados da nutrição: escritos sobre a alimentação na Amazônia. In: SILVA, Sandro Dutra; SÁ, Dominichi Miranda de; SÁ, Magali Romero de (Org.). Vastos sertões: história e natureza na ciência e na literatura. 1. ed. Rio de Janeiro: Mauda X, 2015. p. 213-230.
CAMPOS, André Luis Vieira. Políticas Internacionais de Saúde na Era Vargas: o Serviço Especial de Saúde Pública, 1942-1960 [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006,
CANESQUI, Ana Maria. Antropologia e alimentação. Rev. Saúde públ. S. Paulo 22: 207-16, 1988.
CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 1967.
DIAS, Edson Gabriel dos Santos. A marcha das políticas de alimentação: o SAPS na integração da Amazônia (1940-1954). 2025. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2025.
Como citar este texto
DIAS, Edson Gabriel dos Santos. Identidade alimentar da Amazônia em disputa de poder na COP30. Site do Observatório História e Saúde – COC/Fiocruz, 2025. Disponível em: <https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/identidade-alimentar-da-amazonia-em-disputa-de-poder-na-cop30/=7292&preview=true>. Acesso em: XX de xxx. de 20XX.