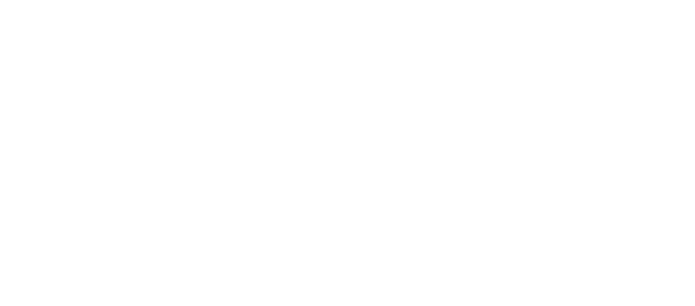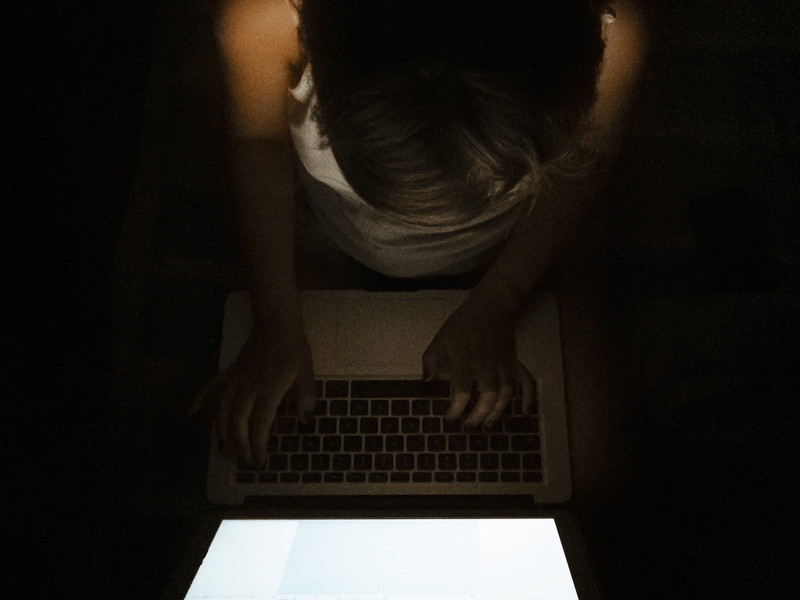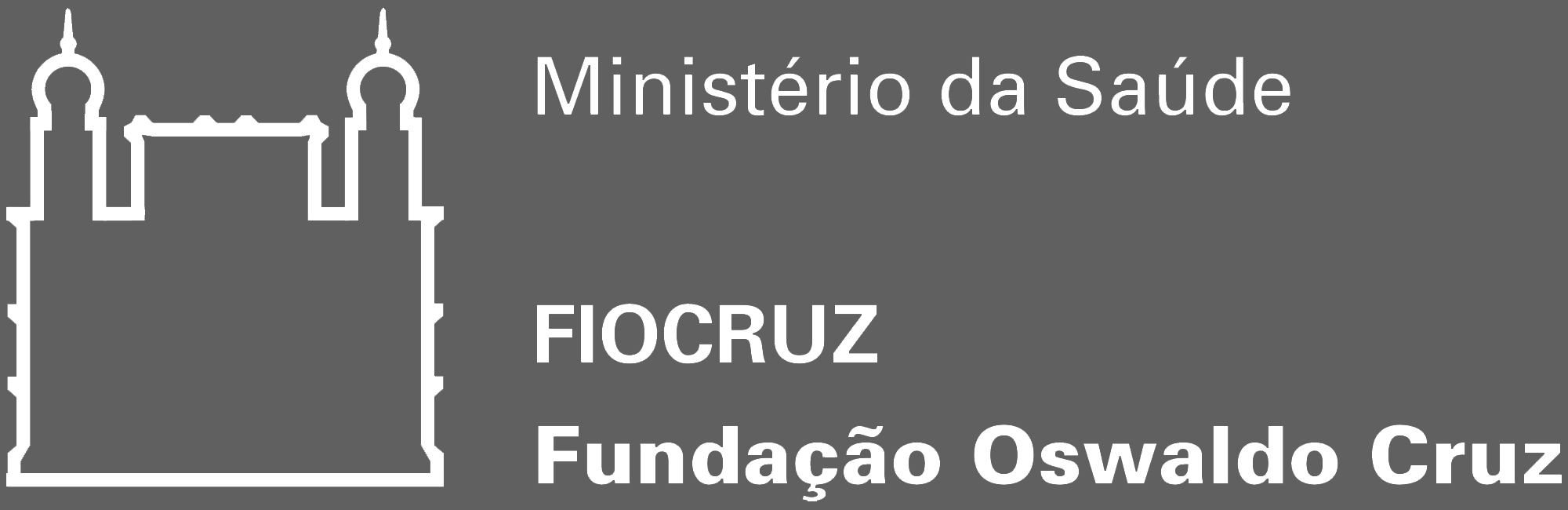Uma epidemia, por óbvio, é um fenômeno coletivo, da ordem das populações. Uma pandemia diz respeito aos povos e nações e, eventualmente, ela é global. Será global não só quando espraia-se rapidamente pelos quatro cantos da terra, mas, sobretudo, quando somos inundados de forma estonteante com informações acerca dos mais variados contextos regionais e nacionais; nos inteiramos com alguma facilidade dos informes e diretrizes de instituições como a Organização Mundial da Saúde; e experimentamos a repercussão de tudo isso, atravessados que somos pelas diversas mídias de massa e pelas chamadas redes sociais. O corrente noticiário sobre a COVID-19 e a polifonia de postagens as mais diversas são sobretudo isso: um registro da experiência coletiva global da pandemia. E, neste sentido, a COVID-19 é a primeira pandemia global da história, efetivamente merecedora deste qualificativo.
No Brasil, ela é também a primeira epidemia de fato nacional. Ela atingiu velozmente todos os estados e logo alcançará a totalidade dos municípios, seus bairros e logradouros. Ela, como nenhuma outra, atinge todos os segmentos sociais, sem escapar é claro do peso das desigualdades na sua dispersão, na gravidade dos casos e no número de óbitos entre os mais pobres e vulneráveis. Nem mesmo a AIDS alcançou essa envergadura. A COVID 19 adoece a sociedade por inteiro e desnuda as nossas pavorosas comorbidades sociais. É nessa dimensão intrincada entre o nacional e o local, atravessada pelas nossas desigualdades, que se estabelece a mediação política da pandemia. Aqui nos deparamos na prática com as formas políticas do seu enfrentamento; da ação, da omissão ou o do caráter pusilânime dos governos da ocasião. Aqui nos enredamos no debate público em torno das narrativas, na disputa pela opinião pública.
A pandemia também mobiliza os elementos comunitários da proximidade social. Certamente no interior da família, em tempos de quarentena, de distanciamento que seja, onde toda notícia é requerida e às vezes temida. Também o é no âmbito da comunidade imediata, na prestação de serviços essenciais de vizinhança. Da mesma forma, quando uma maior interação humana é imposta pela precariedade do tecido urbano e das habitações nos bairros pobres e onde desde sempre a solidariedade é condição de sobrevivência nas emergências. É também nesse âmbito que nos deparamos com as formas concretas, organizadas, institucionais da atenção à saúde. É quando o Estado ou os aparatos privados entram em contato com familiares, vizinhos, colegas, conosco e com nossas aflições. É quando o acesso aos serviços, sua disponibilidade ou ausência, sua resolutividade ou não, nos conforta ou ameaça.
Todavia, a pandemia é também íntima, nos afeta em nossa solidão essencial. No silêncio dos dias e principalmente das noites – e durante semanas e meses que parecem intermináveis – nos encontramos irremediavelmente com os nossos corpos e vasculhamos nossos tempos vividos e por viver, na expectativa de uma sobrevida incerta. Assim ocorre principalmente aos mais velhos, mas todos o fazem, tanto os justos, os calmos, quanto os inquietos e rebeldes.
Talvez não o façam os incuravelmente obtusos, os ignorantes e orgulhosos da sua estupidez, os sem-noção de todo dia e dos domingos, já que estes vão se tornando uma espécie de dia nacional da patifaria explícita de uns e outros. Sobre esses não sei. Os demais, sadios, sentem a pandemia em uma merecida profundidade.
Nossos corpos emitem todos os tipos de sinais; inquirimos nossas comorbidades reais, descuidadas ou não, intuídas ou imaginadas. Monitoramos narizes e gargantas; os ritmos da respiração. Ao menor sintoma, somam-se os pontos para uma escalada da ansiedade. Não há de ser nada, mas sobrevêm uma tensão de fundo.
Nosso entorno é esquadrinhado em busca de fontes potenciais de infecção. O passado imediato é revisto, checado, segundo protocolos preventivos informados ou inventados. As próximas ações são mentalmente ensaiadas, maneira de tornar qualquer futuro mais provável.
Quando sós, quando nos permitimos ficar sós, ficamos com nossos afetos, inclusive nossos estados de afeição por nós mesmos. Nós reavaliamos a vida que nos foi possível viver, as nossas escolhas. Nossos encontros e desencontros, de ontem e de agora, os sentimentos que eles mobilizam, se tornam vívidos, presentes, e invadem nossos percursos de pensamento. Avós, pais, irmãos, paixões e amores duráveis ou não, filhos e filhas, netos, amigos e ex-amigos povoam nossas imagens mentais. Se os moribundos, na hora fatal, repassam a vida como em um filme, na pandemia, em isolamento, é difícil escapar de um certo estado de morbidez, ainda que nos mantenhamos saudáveis. E aqui temos tempo de repassar a vida, mais devagar, talvez como uma série de TV, de repente em maratona.
Assim deve ser mesmo, já que disso pouco se escapa. Nos cabe permanecer generosos para com o que fomos e podemos ser. E que a boa crítica, grave quando necessária, tempere a reflexão. É mesmo de se esperar que essa experiência pessoal única resulte em algo intimamente proveitoso. E que assim seja.
Mas, e quanto à nossa vida em sociedade, aos espaços públicos sacudidos por esse acontecimento singular, histórico em todas as suas dimensões? E no que concerne aos nossos dilemas como sociedade, cujos vários aspectos tristemente bizarros se tornam a cada dia mais expostos?
A expressão “o novo normal” é uma das novidades do debate sobre o que podem ser as sociedades global e brasileira após a pandemia. Para que esta conversa seja de fato consequente, seu ponto de partida deve ser explicitar, sem hesitar, todas a mazelas da nossa vida comum no ‘velho normal’ de sempre, injusto e infame. É preciso não cair no engodo de uma pretensa necessidade de se ‘superar o passado e olhar para o futuro”. Ele muito provavelmente vai reeditar velhas fórmulas de penalização da população e das políticas de inclusão e bem estar, para reproduzir os modos de vida geradores de um quadro de desigualdades sociais imoral. Vai reiterar a necessidade das abordagens ditas “técnicas” em matéria de finanças públicas e economia pró mercado, para garantir a reprodução de uma concentração de riqueza indecente.

Nesta linha, outra arapuca a ser evitada é a sedução de uma pretensa neutralidade técnica na gestão pública, que certamente se fará acompanhar, em nome de um patriotismo unitário e autoritário, de uma crítica igualmente fajuta ao debate político em torno dos diagnósticos da crise e das agendas de futuro. Convocando uma unidade nacional imprecisa, pretendem cancelar o debate político sobre recursos, direitos, organização civil e poder.
E jamais a pandemia pode se tornar apenas mais uma experiência de consumo, segundo as lógicas dos mercados, das redes e do espetáculo midiático. A pandemia é uma dramática experiência popular de vida, tal como a de uma geração que experimenta uma guerra em sua própria terra.
Nos primeiros anos da Segunda Grande Guerra, diante da ameaça de invasão nazista à Grã Bretanha, Winston Churchill, o então primeiro ministro inglês, exortava os britânicos a combaterem de praia em praia, de colina em colina, de vila em vila, de rua em rua e de casa em casa. Aqui, não temos nos postos de mando líderes deste tamanho. Até uma apressada canetada burocrática tornou comunitária a transmissão do vírus em todo território nacional, quando vilas e cidades inteiras ainda não haviam registrado um só caso. Assim escapavam nossas autoridades da responsabilidade de testar, circunscrever e conter os casos. Assim, também não se convocavam as comunidades locais a resistir criativamente de rua em rua e de casa em casa. Ao contrário, alguns empurram seus concidadãos para dentro de vagões de trem e ônibus, para encostar a barriga nos balcões de comércio, enquanto seus senhores mantêm amores, filhos e netos protegidos em habitações mais que confortáveis, sítios e vivendas. Nada que surpreenda: uma elite de carros blindados estará sempre em guerra contra seu próprio povo.
Na saúde, a dificuldade de acesso aos serviços inclusive funerários precisa ser mais uma vez demonstrada e tornada pública. Da mesma forma, o peso desigual com que a doença e a crise econômica atingem agora e continuarão atingindo aos mais pobres, como sempre aliás. É preciso denunciar o privilégio, premiado por formas bilionárias de renúncia fiscal, dos planos de saúde e dentre estes dos mais custosos e as suas reservas de leitos e cuidados de tratamento intensivo, que todos nós coletivamente pagamos.
Se vale – e vai valer muito – celebrar o compromisso e entrega dos profissionais de saúde nas trincheiras mais agudas da luta, é preciso discutir ainda mais – como há décadas se discute – a nossa formação profissional em saúde. Principalmente as expectativas milionárias de boa parte dos formandos de um curso médico igualmente milionário quanto aos seus custos para as famílias e a sua disposição de, digamos, combater nas frentes mais duras da saúde pública.
Tudo isso e muito mais tem de ficar claro e compreensível para nós leitores e para a nossa enorme população de desconsiderados. A tarefa da divulgação popular em saúde é tanto imensa, quanto inadiável. Ela terá de enfrentar, de praia em praia, colina por colina, a pouco cartografável guerra nas redes.
Assim, como intimamente nos defrontamos agora com as nossas possibilidades e escolhas pessoais de vida, no silêncio dos nossos quartos, que possamos, com a faca nos dentes, combater a batalha coletiva das nossas vidas.
Sobre o autor
Fernando Antônio Pires-Alves é Pesquisador associado do Observatório História e Saúde (COC/Fiocruz).
Como citar esse texto
PIRES-ALVES, Fernando A. Reflexões insones em noites pandêmicas. Site do Observatório História e Saúde – COC/Fiocruz, 16 de mai. 2020. Disponível em: https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/reflexoes-insones-em-noites-pandemicas/. Acesso em: XX de xxx. de 20XX.