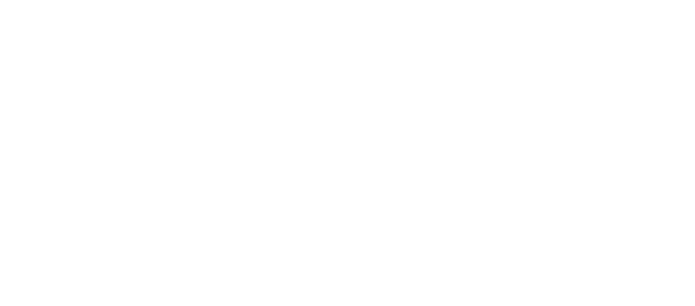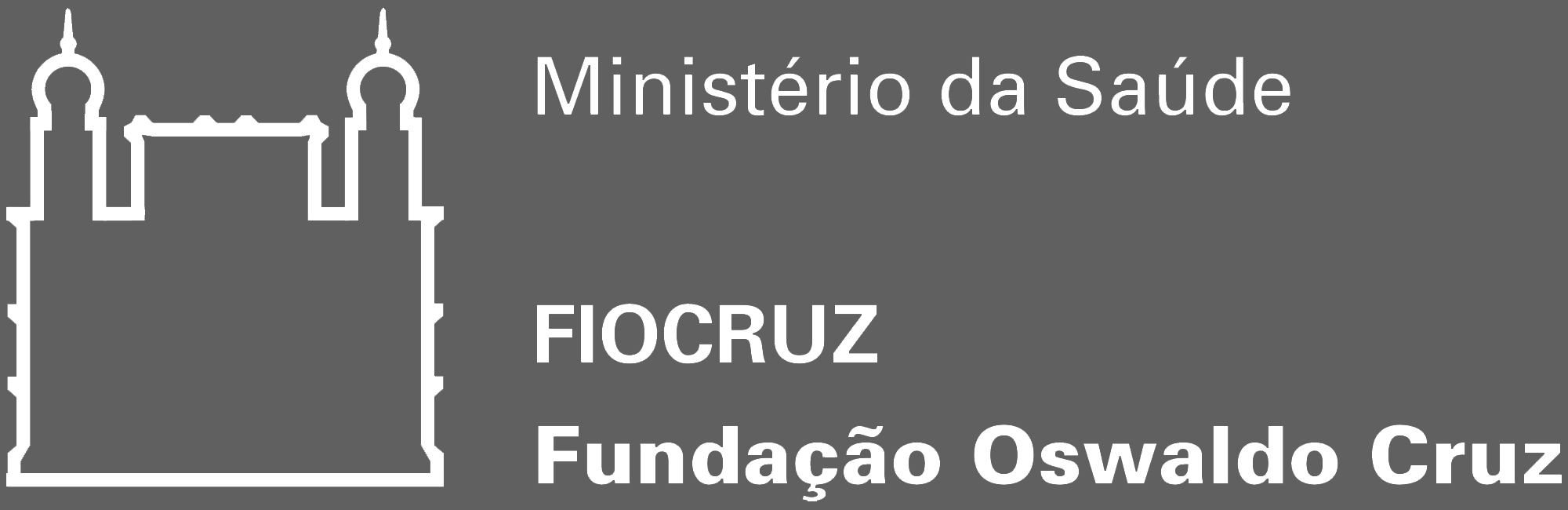Presidente da Associação Nacional de História (Anpuh) no biênio 2021-2023, o historiador e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Valdei Lopes de Araújo, conversou longamente comigo sobre o que considera um dos grandes desafios da contemporaneidade: o resgate da complexidade, ou ainda, a capacidade do historiador de responder às demandas sociais de maneira complexa.
Para Araújo, numa sociedade onde todos falam, o restabelecimento da autoridade quase que sacramental do especialista, dos experts, não funciona mais, uma vez que essa dependia de outro sistema de comunicação, que não está mais disponível. Nesse contexto, ele considera fundamental o investimento da Anpuh em profissionais especializados na conversação, no diálogo, na mediação com a sociedade.
“O jornalista me inspira muito a pensar nisso, pois está preocupado em fazer ver, em promover a conversação, e isso exige uma outra relação com a autoria. Não é o controle do conteúdo, mas o controle do processo, o que é muito difícil para um pesquisador das humanidades entender”.
Com esse objetivo, sua gestão na Anpuh pretende investir em uma estrutura de comunicação pública da história, de diálogo forte com a comunidade. “Não temos uma assessoria de imprensa, um jornalista, mas queremos fazer isso até o final do nosso mandato, em 2023. Queremos também ser uma empresa de comunicação”.
Em recente debate na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), da Fundação Oswaldo Cruz, você afirmou que o papel do historiador e da historiadora, hoje, deve ser o do resgate da complexidade, pela capacidade de atender as demandas sociais de maneira complexa. Você poderia detalhar mais essa ideia?
Uma colega historiadora da Fiocruz me perguntou nesse debate como eu avaliava o lugar da erudição nesse cenário de desinformação e crise do papel das humanidades e dos sistemas de mídia. Veja, alguns autores vêm assinalando que não faz mais muito sentido a gente estudar o controle ou a capacidade de armazenar informação. O ethos do erudito era a do colecionador, do bibliófilo, do descobridor do documento, daquele que tinha acesso a um grande reservatório do conhecimento que o mundo impresso passou a ofertar. Hoje, querendo ou não, empresas como a Google vêm substituindo esse erudito, oferecendo informação de maneira mais completa e eficiente que qualquer profissional de erudição poderia fazer. Por isso é preciso avançar na interdisciplinaridade, em novas fronteiras, o que tem muito a ver com o papel que o historiador como cientista social assumiu ao longo do século XX, de alguém capaz de formular grandes problemas, de dar boas respostas a questões complexas. Trata-se de uma complexidade que desafia as humanidades e não tem muito a ver com o papel clássico do erudito.
Com o passar do tempo, outras questões surgiram nesse contexto, aprofundando a complexidade, não?
Sim, novas fronteiras de investigação se abriram. A gente hoje estuda a história digital, a forma como as empresas organizam seus bancos, as ferramentas que melhoram a visualização destes dados e como podemos democratizar o acesso. Por outro lado, a promessa do início da internet, de que juntamente com esse acesso viriam soluções para grandes problemas, de que o mundo seria transparente, não se realizou. Foi uma promessa absolutamente falida. A gente vive num mundo onde nos expomos muito como cidadãos, mas não temos acesso ao resultado dessa exposição. Tudo o que essas empresas recolhem com essa interação no mundo digital não está acessível pra gente. Precisamos tornar visível essa grande massa de informação, de modo que ela possa servir à emancipação da sociedade, não apenas à venda de produtos. Nós também não nos tornamos mais sábios por termos mais acesso à informação. Não conseguimos tomar boas decisões enquanto sociedade, enquanto coletividade. Temos fraquíssimos sistemas regulatórios dessas corporações de comunicação, poucos profissionais das humanidades hoje compreendem como esse sistema funciona. Vivemos uma grande crise de tomada de decisão, uma crise de sabedoria.
Talvez uma crise de mediação também, não é?
Exato. Penso que nós caímos numa armadilha que era tanto o quanto inevitável. A grande corrida da minha geração – eu terminei meu doutorado em 2003 – era produzir artigo, comunicar em inglês, fazer pesquisa de alto nível. De fato, o Brasil investiu muito nisso, nas bolsas, na criação de programas, de universidades públicas. Financiamos, compramos equipamentos e entregamos um conhecimento de altíssimo nível. Mas, nesse processo, formamos uma mão de obra que não tinha como se preparar para comunicar esse conhecimento produzido. A prioridade era fazer teses, dissertações e artigos altamente especializados e preparar a docência para a universidade. Não por acaso, na área da história a formação de professores para o ensino básico ficou subvalorizada. Passamos então a ter um exército de acadêmicos que foi estimulado pelo sistema nacional de pós-graduação a produzir quase que exclusivamente pesquisa. Hoje o ritmo de pesquisa é frenético. É um ritmo quase em tempo real de produção de ciência de alto nível. Mas o pesquisador hoje precisa atuar como um curador, um mediador entre o conhecimento produzido e a sociedade.
Nesse cenário, como é possível promover a mediação, a interlocução com a sociedade?
Trata-se de buscar estratégia de conversação e de auxílio à sociedade em geral na construção de soluções para as suas demandas. Isso não se dá apenas com pesquisa básica de um lado e escola do outro – que são importantíssimas –, porque os problemas sociais continuam para além do período de escolarização. O cidadão vai sair da escola básica num mundo bombardeado pela indústria da comunicação, pelas novas corporações da internet, pelos grupos partidários e religiosos que se transformaram em empresas de comunicação. Temos, do nosso lado, do lado da ciência, instituições que se renovaram, mas não estão aptas a produzir profissionais capazes de fazer essa mediação, dedicados de maneira exclusiva a promover a conversação entre a sociedade e o cientista. E não há incentivo para se estabelecer um sistema de mediação entre esse conhecimento especializado produzido e a sociedade como um todo. Profissionais que produzam a complexidade na conversação. Não se trata de simplificar o conhecimento produzido, não é isso.
Você diz que a comunicação como ciência do tempo contemporâneo foi afetada por uma série de processos externos, pelo domínio das corporações, a propaganda, a manipulação, sendo a própria comunicação uma ferramenta de desinformação. Como os pesquisadores das ciências sociais, artes e humanidades podem lidar com essa complexidade?
Tem uma dimensão que é individual mesmo, de entender o novo mundo em que nós vivemos, um mundo em que a automatização fez com que tivéssemos que aprender a usar ferramentas tecnológicas. Temos que nos apropriar dessas ferramentas que se democratizaram e isso exige uma transformação existencial. Por isso a busca da complexidade nas relações humanas é muito importante, ainda mais quando ocupamos espaços privilegiados. Não podemos simplesmente cruzar os braços. Temos que assumir esse desafio do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista institucional. Temos que criar ambientes e equipes de pesquisa, espaços institucionais mais ágeis no estudo dessa realidade muito complexa e algumas vezes caótica, principalmente na sua dimensão digital. Esse tema não pode estar somente nas mãos das empresas privadas como Google e Facebook, a pesquisa pública deve estar na vanguarda desse processo. A substituição das universidades pelas corporações é uma das raízes da crise que nós vivemos.
No mundo e no Brasil, especificamente, vivenciamos um momento de muito negacionismo e desinformação. Como os historiadores podem e devem lidar com tais discursos, que promovem ódio, preconceitos e sabotam medidas sanitárias?
Como cientista você é um facilitador para que as pessoas possam chegar a acordos sobre a realidade. É preciso dá a ver essa realidade, pois muitas vezes ela não está visível. A gente vive uma crise da facticidade. O problema é que, quando você vive uma crise na qual faltam critérios para definir o que é factual e o que não é, isso leva à própria dissolução do tecido social. Então, se a pessoa começa a duvidar que o vírus da Covid-19 realmente existe, isso ameaça a própria integridade da sociedade. Trata-se de um sintoma de uma crise social mais profunda, que deve nos preocupar. Por isso precisamos de equipes, de laboratórios, de modelos de políticas públicas que protejam a sociedade do fenômeno das bolhas, da polarização, da desinformação. Por que não conseguimos fazer frente a essas tecnologias que entram de maneira disruptiva? É preciso empoderar a universidade, a pesquisa e criar modelos de políticas públicas que sejam tão disruptivos quanto. Precisamos tornar tal debate uma prioridade na nossa agenda. A pandemia ajudou um pouco isso, na historiografia nunca se discutiu tanto os problemas da contemporaneidade como agora.
Em recente artigo na Piauí (“A crise dos experts”), a pesquisadora Tatiana Roque aponta que o abalo na credibilidade dos especialistas é um fenômeno mundial resultante de estratégias que desqualificam o trabalho destes profissionais e das instituições epistêmicas. A pesquisadora afirma que parte do problema advém de mudanças que abalaram o casamento entre ciência e política, dentre elas a própria dificuldade de cientistas e especialistas em comunicar temas complexos.
O puro e simples restabelecimento da autoridade, dos especialistas, dos experts não vai funcionar numa sociedade onde todos falam. Essa autoridade quase que sacramental do especialista dependia de outro sistema de comunicação, que não está mais disponível. Não é possível mais silenciar o negacionista, a pessoa que é vítima da desinformação. É preciso puxar a conversação com ela, e essa conversação exige um lugar diferente desse lugar solar que o expert ocupou. Ele era protegido por instituições que hoje já não o protegem mais. Mesmo sem perder a perspectiva da distância histórica, os historiadores estão revendo suas agendas em função de uma realidade que é inédita na nossa história recente. Precisamos restaurar a possibilidade de que, apesar de nossas diferenças, nós temos ainda objetivos comuns, e a melhor maneira de atingirmos esses objetivos é através do diálogo aberto, de entrarmos em algum tipo de acordo. Essa sempre foi uma das prerrogativas da política, mas antes da política, da conversação. Os profissionais da comunicação estão muito aparatados pra isso. A comunicação como ciência do contemporâneo tem no seu cerne a visão de que é possível promover o diálogo. Precisamos melhorar nossa comunicação.
Nessa palestra na SNCT, você afirmou que o cientista, o pesquisador, não sabe fazer o que faz o jornalista, não tem habilidade para escrever para um público não especializado. Caberia ao jornalista a curadoria sobre a qual você fala?
O que me motivou muito a pensar no curador – e o jornalista me inspira muito a pensar nisso –, não está naquela concepção romântica da ‘ideia original’, do descobrimento científico. O jornalista está preocupado em fazer ver, em promover a conversação, e isso exige uma outra relação com a autoria. A autoria do jornalista é diferente. Não é o controle do conteúdo, mas o controle do processo, e isso é muito difícil para um pesquisador das humanidades entender. É menos a produção de uma ideia original e mais a produção de um modo de ver, um modo de transmitir, um modo de ouvir. O bom jornalista não é só aquele que fala, mas aquele que sente o pulso da sociedade e está em constante conversação com os leitores, e a auditividade que o bom jornalista tem nem sempre o pesquisador tem. O pesquisador não é ensinado a ouvir o público. O jornalista é o curador, ele dá a ver o fenômeno complexo, que sem essa intervenção não teria tanta visibilidade.
Em sua gestão na Anpuh, você espera lidar com essas questões? A aproximação com o público não-historiador é uma forma de quebrar um elitismo que talvez ainda persiste na associação?
A Anpuh é uma associação de 60 anos. Embora a gente mantenha a sigla, queremos ser uma instituição que promova a experiência da história em todos os níveis, no ensino, na comunicação pública, na pesquisa. As pessoas têm direito à história, no sentido de que nós somos sujeitos da história, a história nos constitui. Então, ter acesso a ferramentas para desenvolver nossa historicidade é fundamental para o desenvolvimento humano. Precisamos ter acesso a condições de contar essa história como pessoa, como membro de uma família, como morador de uma cidade, como habitante do mundo. Como tudo no capitalismo é constantemente privatizado, nossas histórias são transformadas em produtos comerciais, ou negadas às pessoas. O direito à história – um dos conceitos mais importantes da Anpuh – deve ser realizado de múltiplas formas, pelo ensino, na educação básica, pela pesquisa pública orientada para o bem comum, para disponibilizar ferramentas e informação para cada um achar sua história e contar sua história. Hoje temos uma estrutura modesta, mas queremos dar conta dessa demanda da sociedade brasileira por história. Não temos ainda uma estrutura de comunicação pública da história, de diálogo forte com a comunidade. Não temos uma assessoria de imprensa, um jornalista, mas queremos fazer isso até o final do nosso mandato, em 2023. Queremos também ser uma empresa de comunicação.
Leia também