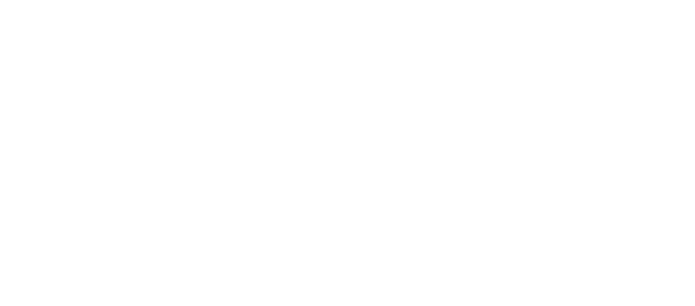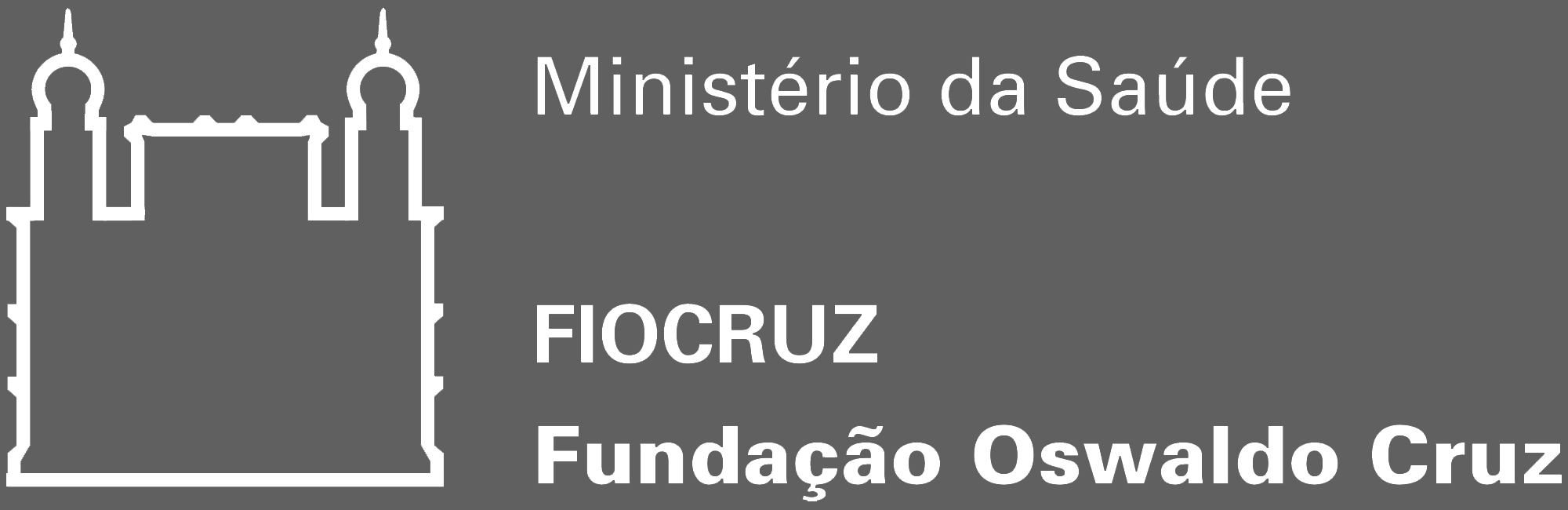O percurso da pandemia de Covid-19 tem evidenciado um perturbador paradoxo quanto à forma como lidamos com a doença. Países que apresentam as mais elevadas estatísticas de incidência e mortalidade, como os Estados Unidos e o Brasil, são os mesmos onde movimentos contra o distanciamento social têm ganhado força, sustentando-se principalmente no reflexo dos chefes de Estado, Jair Bolsonaro e Donald Trump[1]. A postura de ambos os presidentes causa espanto em muitas pessoas, e sua reverberação em grupos sociais parece incoerente com a realidade vivida.
Essa aparente incongruência pode revelar diferentes aspectos de como a sociedade lida com populações mais vulneráveis. No caso brasileiro, o discurso contra o distanciamento social tem como base uma forma de pensar vinculada à manutenção da desigualdade, como forma de preservação de privilégios e desumanização do diferente. Essa concepção e contrária aos princípios do sistema de saúde brasileiro, definido na Constituição de 1988, que tem como um dos pilares, no campo da proteção social o princípio da equidade, de oferecer mais a quem mais precisa. Como nos Estados Unidos, a justificativa econômica do governo brasileiro para acabar com os esforços de mitigação da epidemia abandona os mais fracos e mantém as desigualdades. Se alguns podem reivindicar um retorno controlado às atividades econômicas, as pessoas mais vulneráveis têm menos ou nenhum controle sobre as condições de trabalho e enfrentam exposição ao vírus. Uma vez doentes, as mesmas pessoas precisam lutar para obter acesso em um sistema sobrecarregado.
Duas reflexões filosóficas podem ajudar à compreensão dessa forma de lidar com o outro. Uma delas é de Michel Foucault que, em meados dos anos 1970, ministrou um curso, depois transformada em livro[2], expondo sua concepção sobre as formas dos Estados contemporâneos se apoderarem de suas populações e as transformar em instrumentos de produção para o mercado e de manutenção de poder. Para esse autor, a época moderna viu surgir novas formas de tratar a vida e a morte. Se, nos idos da Idade Média, antes da formação dos Estados Nacionais europeus, os poderosos soberanos dispunham da vida e da morte de seus súditos numa engrenagem movida por sua predileção em faze-los morrer ou deixá-los viver; no mundo moderno, a partir de uma organização política que busca utilizar os corpos e as populações em estratégias de poder (biopolítica), os polos da questão se invertem e a vida é tomada como o polo positivo: “fazer viver”. No entanto, o “fazer viver” das sociedades modernas tem uma ação oposta que é o deixar morrer. Para que essa modalidade de poder se realize, é preciso identificar o diferente, o inadequado, o degenerado ou anormal. Para Foucault, essa identificação é corporificada pelo racismo (em seu sentido mais amplo), sendo esta a forma das sociedades modernas introduzirem o corte entre quem deve viver e quem deve morrer.
A configuração elaborada por Foucault nos ajuda bastante a pensar sobre as propostas para afrouxamento das ações de controle da epidemia. Acabar com o isolamento ou permitir qualquer medida que ajude a levar ao colapso o nosso sistema público de saúde, já envolto em suas próprias limitações, é uma forma de enviar ao extermínio os mais fracos. Quem são os primeiros a morrer, para quem faltam leitos, quem está impossibilitado de cumprir as medidas de distanciamento social? A reposta se relaciona a uma disposição de poder, em termos foucaultianos, na qual as pessoas, as populações, têm seus corpos transformados em agentes para a produção. Quando vistos como inadequados, passam a ser vistos como passíveis de deixar morrer. Nesse contexto, velhos, pobres, desempregados devem ser os primeiros a sucumbir.
Outra filósofa cujo pensamento ajuda a pensar a questão da vida e morte na epidemia é a alemã Hannah Arendt. Em seu livro “Eichmann em Jerusalém”, ao discutir as formas de pensar e agir do ex-oficial nazista Adolph Eichmann, ela estabeleceu o conceito de “banalidade do mal”, uma forma das pessoas se desapegarem das experiências humanas éticas e se envolverem em ações contra princípios sociais básicos, como a preservação da vida. Esse desapego é associado à subserviência cega às ordens e à completa falta de capacidade crítica[3]. No Brasil e nos Estados Unidos, o vazio ético inerente à remoção de medidas sociais protetoras, que leva à morte dos mais fracos, assemelha-se à política mobilizada pelos regimes fascistas. Nessa linha de pensamento, o sofrimento e a morte, quando impostos a certos grupos, perdem qualquer senso de crueldade. Os pronunciamentos recentes de Bolsonaro e da ex-secretária de Cultura Regina Duarte sobre o número de mortes do COVID-19 são exemplos vívidos desse horror. Bolsonaro perguntou: “Eles estão morrendo, e daí?” enquanto Duarte menosprezou as mortes da epidemia, afirmando: “As pessoas sempre morrem”
Se a retórica e as ações de Bolsonaro e Trump são baseadas em uma ideologia de destruição dos mais vulneráveis, ainda precisamos pensar em como essa ideologia se difunde por toda a sociedade – sua banalização. As tendências atuais do pensamento acrítico diante do “mal” são, em certa medida, um resultado lógico de visões políticas recentes que excluem o diferente, seja uma pessoa ou uma forma de pensar. Idéias anteriormente inimagináveis começaram a ganhar espaço público. Bolsonaro, por exemplo, sugeriu a eliminação de proteções para os povos indígenas e cortejou apoiadores neonazistas. As eleições de Trump em 2016 e Bolsonaro em 2018 foram marcos significativos em uma emergência transnacional de fascismo e destruição do outro.
Tal situação, em parte se deve à ampliação da comunicação imediata e das diversas formas de sua manipulação. A enorme capacidade de difusão de diferentes ideias a partir de dispositivos móveis ampliou a possibilidade de banalizar o mal e, também, a capacidade de recrutamento de um conjunto de personagens pouco críticos que, baseados numa concepção liberal difusa, passam a propor que o merecimento à proteção do Estado se relaciona à capacidade produtiva, e que fora dessa concepção todos devem se responsabilizar pelos seus destinos. Tal visão é compartilhada por parcelas da sociedade que se veem liberadas para pregar o fim do isolamento e, de forma dissimulada, autorizar a morte dos mais fracos.
Repetir de forma acrítica tais proposições, transformá-las em dogmas e buscar a sua concretização consistem em cruzar a linha entre uma posição acrítica e adotar a crueldade e desumanidade associada à banalização do mal. Enquanto isso, aqueles que se veem no elo mais fraco, expostos como principais vítimas reais e potenciais da pandemia, precisam lidar com a concretude da fatalidade.
Não é possível ignorar, também, as diferentes maneiras das pessoas que compõem esse elo mais fraco em atribuir sentido a esse contexto doloroso que tem sido vivenciado. Como assinala Michel de Certeau, “é sempre bom recordar que não se deve tomar os outros por idiotas”[4], o que significa observar as ações e reações no cotidiano como tentativas de tomar a situação em mãos, para sobreviver. É importante lembrar que uma imensa parcela da população brasileira e estadunidense está nas condições de desemprego e subemprego, o que a torna aliada em potencial para discursos contrários ao distanciamento social e pregadores do salvacionismo à economia. A essas pessoas, não há um ambiente de discussão, não há flexibilização, não há negociação: o “retorno à vida normal”, como defendido diariamente pelos presidentes, é repetido pelo patrão, e incorporado pela falta de segurança transmitida pelo Estado no suporte em tempos de crise, e pela pressão prática de uma geladeira vazia e outras pessoas pedindo alimento.
Essa assimetria na capacidade de ação quanto ao isolamento só torna ainda mais alarmante a banalização do mal por segmentos que pedem o retorno ao cotidiano, fazendo carreatas exigindo a volta ao trabalho de pessoas que utilizarão os transportes coletivos, expostas à aglomeração diária. Os tempos de pandemia mostram como o discurso de união patriótica e de um suposto equilíbrio social provocado pelo vírus (sintetizado na ideia de que “estamos todos no mesmo barco”) é hipócrita, pois traz consigo o sentimento de superficialidade da vida tão bem traduzida na equiparação entre saúde e economia. Nesse cenário de caça ao mais fraco, é urgente a desconstrução dessa falsa simetria entre a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico, a cobrança da responsabilidade do Estado pelo “fazer viver” da população e a crítica aberta aos discursos e ações cruéis que vem exterminando os mais vulneráveis. É na banalidade do mal que vivemos nossas maiores atrocidades.
[1] Segundo o Situation Report – 125 da World Health Organization, referente a 24 de maio de 2020, os Estados Unidos da América apresenta um total de 1 568 448 casos da doença e 94.011 mortes e o Brasil 330 890 casos e 21 048 mortes, sendo os líderes em numero de casos e de mortes nas Américas. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200524-covid-19-sitrep-125.pdf?sfvrsn=80e7d7f0_2
[2] A ampla medicalização da sociedade, o surgimento dos Estados de bem-estar social, o horror de certas formações sociais à eutanásia e ao aborto são exemplos dessa formulação que tem na manutenção da vida seu principal objetivo. Michel Foucault. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
[3] Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
[4] Michel de Certeau. A Invenção do Cotidiano. Volume 1: Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2014 (22ª ed.).
Leia também