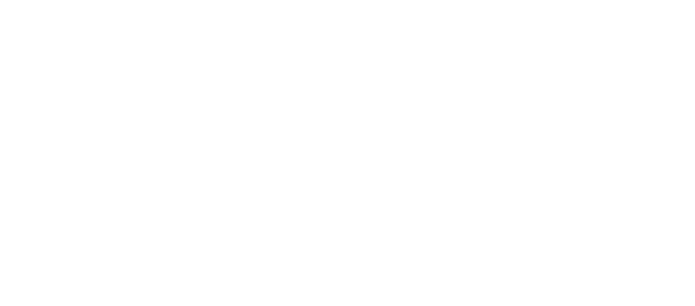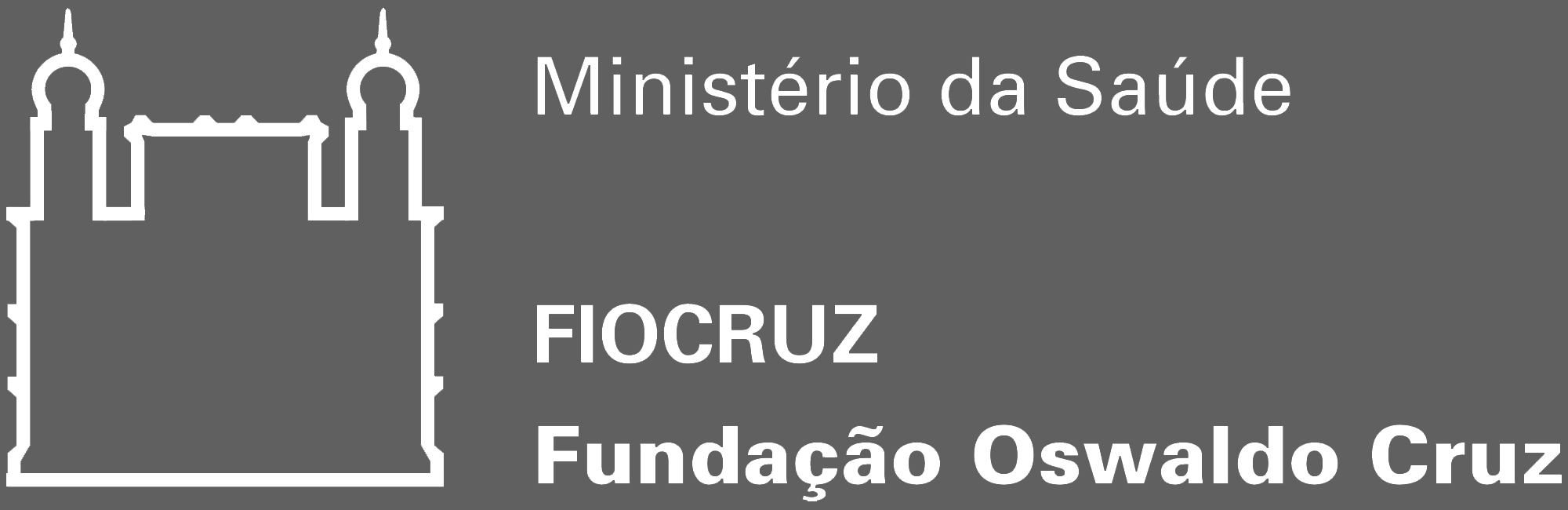Doenças infecciosas emergentes são doenças transmissíveis novas, ou que surgiram recentemente em uma determinada sociedade. Sua disseminação por diversas partes do globo pode ser observada desde o século 16, quando os exploradores espanhóis levaram a varíola, o tifo, o sarampo e a gripe às populações mais suscetíveis do Novo Mundo. Essa verdadeira guerra biológica levou a um catastrófico despovoamento, com aproximadamente 50 milhões de mortes entre as populações originais.
Nos séculos seguintes, o intercâmbio de doenças não parou de se expandir. Junto com os europeus, escravos, plantas e animais que eram trazidos para as Américas, vinham também as doenças, como a sífilis, o cólera, verminoses e outros males que passaram a fazer parte do cotidiano das sociedades americanas. O desenvolvimento urbano e populacional do século 19, aliado ao forte aumento do transporte transatlântico, fez com que doenças transmissíveis, em forma epidêmica se intensificassem nas Américas. O Brasil, devido à amplitude de seu comércio e à violência de seu sistema econômico escravocrata seria um dos principais países da região a sofrer com as doenças epidêmicas. Não foi à toa que o Rio de Janeiro, então capital do país, ficou conhecida no início do século 20 como o “tumulo dos imigrantes”
No entanto, este início de século traria também um alívio para o problema das grandes epidemias. A partir do desenvolvimento dos conhecimentos no campo da microbiologia, as ciências médicas produziram soros e vacinas que possibilitaram o diagnóstico, a proteção e o controle de diversas doenças infecciosas, como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Contudo, a eclosão da gripe espanhola, em 1918, daria fim ao primeiro lampejo de otimismo com a possibilidade de controle das doenças epidêmicas. Esse violento e sinistro surto de influenza deixaria um rastro de milhares de mortes em nossas cidades, mostrando que os riscos de novas doenças não haviam cessado.
Aliás, o otimismo das ciências médicas com a possibilidade de dar fim aos problemas de saúde é tão cíclico quanto as próprias epidemias. No final da década de 1940, após o término da Segunda Guerra Mundial, num momento de desenvolvimento de novas tecnologias, ele se fez fortemente presente. A descoberta da penicilina e sua comercialização, o desenvolvimento de inseticidas monoclorados, como o DDT, que pareciam capazes de destruir os vetores de doenças infecciosas e, no front das doenças crônicas, o surgimento da quimioterapia, fez com que se voltasse a pensar que, em breve, viveríamos num mundo sem doenças.
Tal percepção parecia ser confirmada pela trajetória das doenças na nossa sociedade. A queda dos índices de doenças infecciosas nos países desenvolvidos, em virtude das melhores condições de vida, parecia indicar o caminho das doenças na humanidade. No Brasil, a mortalidade infantil e por infecções que vinha se mantendo elevada, a partir de meados do século 20, teve um, declínio regular e constante, principalmente associado à diminuição dos óbitos por diarreia. Nas décadas seguintes, o declínio da mortalidade por infecções tornou-se mais expressivo, acompanhando a evolução favorável de alguns indicadores de saúde, sociais e demográficos brasileiros. A ampliação da capacidade da saúde pública no controle de doenças epidêmicas e a diminuição mais geral dos índices das doenças infecciosas deram o tom para o surgimento de uma concepção teórica sobre doenças e populações ainda hoje utilizada que toma por base as transformações demográficas das sociedades.
A teoria da transição demográfica surgiu nos EUA em 1929, seus adeptos propõem a existência de uma transformação gradual do perfil das populações nas diferentes sociedades. Nesse sentido, a alta taxa de mortalidade e natalidade de épocas passadas fazia com que muitas crianças morressem antes de atingir a idade adulta, o que levava a uma menor expectativa de vida. A partir do desenvolvimento socioeconômico, os índices de mortalidade passariam por uma importante queda, motivada pela melhoria nas condições sanitárias, evolução da medicina, e urbanização, aumentando, assim, a expectativa de vida. Em virtude do desenvolvimento, as sociedades também vivenciariam um declínio na taxa de natalidade, devido ao acesso à métodos anticoncepcionais, ao elevado custo de vida nas cidades, e à educação, resultando na redução do crescimento vegetativo.
Essa concepção foi vinculada a uma outra, relacionada às doenças: a teoria da transição epidemiológica. Segundo ela, as doenças crônico-degenerativas iriam, aos poucos, tomar o lugar das infecciosas como principais causas de morte à medida que ocorresse a transição demográfica. Esta visão etapista e linear do processo propunha que as sociedades passaram por diversas fases: a fase das pestes (caracterizada pela idade medieval e moderna); a fase das pandemias (entre o século 19 e início do 20) e a fase das doenças crônico degenerativas, relaciona ao grande aumento da população mais velha e ao desenvolvimento científico que deixaria as doenças epidêmicas sobre controle.
O modelo propunha a existência de diferenças no ritmo de mudanças na pirâmide etária e epidêmica. O modelo “clássico” seria exemplificado pelo Reino Unido, Suécia e Estados Unidos, onde as doenças degenerativas haviam substituído as infecciosas como principais causas de mortalidade; o modelo “acelerado”, seria o do Japão, onde o mesmo processo teria ocorrido, um pouco mais tardiamente, porém com maior rapidez; e por fim o modelo “atrasado”, representado pelos países onde a transição epidemiológica é ainda mais recente ou ainda não se completou.
Mais recentemente, alguns estudiosos começaram a observar as limitações da teoria da transição epidemiológica. A primeira delas diz respeito à falta de homogeneidade temporal entre o processo de transição nos diferentes países. Ou seja: os padrões de mortalidade e morbidade são variáveis. Também observaram um quadro de grande heterogeneidade dentro de cada país. Alguns países estariam em uma etapa mais avançada da transição, outros estariam apenas iniciando o processo de transição e outros ainda, apresentariam características dos diferentes modelos, como o Brasil, onde observa-se a sobreposição de etapas, ou seja, a permanência de doenças infecto-parasitárias e crônico-degenerativas de grande importância como a dengue e o câncer.
Qual a conclusão de tudo isso? A teoria da transição epidemiológica traz consigo uma limitação: o fato de não poder ser aplicada indistintamente a diferentes formações sociais. Além disso, ela encobre a possibilidade de emergência e reemergência de doenças controladas. No mundo de incertezas decorrente do desenvolvimento das desigualdades sociais, da ampliação dos contatos entre as diversas populações e da exploração desenfreada de diferentes ecossistemas, não temos como prever o caminho das doenças infecciosas nas diferentes sociedades. Para pensar as dinâmicas de surgimento das doenças emergentes é necessário pensar as complicadas relações entre os sistemas sociais e naturais, atividade tem que ser feita em conjunto entre as ciências biológicas e sociais.
Pensar as formas coletivas de adoecimento como etapas lineares gera a ilusão de que estamos a frente de um novo tempo, onde somente as doenças crônico-degenerativas apresentam-se como problemas de saúde pública, e mesmo assim por um tempo limitado, pois o avanço das das novas terapias certamente irá favorecer o seu controle. A ocorrência da epidemia de AIDS, nos anos 1980, veio mostrar a dificuldade de uma visão como essa. Surgida nos bairros de Los Angeles, a epidemia atingiu inicialmente os homossexuais, que passaram a desenvolver sarcomas, pneumonias e outros tipos de doença típica do enfraquecimento do sistema imunológico. Sua eclosão, de pronto ampliou o preconceito com os homossexuais e o estigma em relação aos doentes.
A partir da década de 1990, a transmissão por relações heterossexuais ampliou-se cada vez mais. A atuação forte dos movimentos ativistas, associada à mudança no perfil epidemiológico e à composição de respostas sociais organizadas, fortaleceram a luta contra os estigmas ligados à infecção pelo HIV. Em nível global, a Aids veio mostrar, mais uma vez, a impossibilidade de pensarmos um mundo sem doenças infecciosas. Ou mesmo a falácia da concepção de que com o desenvolvimento, a carga de doenças se limitaria aos agravos crônico-degenerativos. Outra doença, mais recentemente, veio reforçar a impossibilidade de se pensar dessa forma e, além disso, trouxe mais algumas questões que nos ajudam a pensar as doenças emergentes.
Em 1947, o Zika vírus foi identificado entre os primatas da floresta de Zica, em Uganda; um vírus transmitido por meio de relação sexual e, principalmente, pela picada de mosquitos. Nos humanos, o vírus causa doença e complicações ainda não totalmente conhecidas. Como em outras epidemias disseminadas por mosquitos, o avanço do homem sobre a natureza, o modelo hegemônico de convivência nas grandes cidades, as deficiências do sistema de saúde e as iniquidades sociais determinaram a intensificação da transmissão da doença.
No Brasil, há registros de casos da zika à época da Copa do Mundo, porém foi só em 2015 que foi confirmado o primeiro caso de transmissão ocorrida dentro do país, na região Nordeste. Os diversos sintomas – exantema, febre intermitente, mialgia e dor de cabeça, garganta, tosse, vômitos entre outros, por si mostravam que tal qual a dengue, se tratava de uma infecção perigosa. No entanto, algo muito pior logo aconteceu. Entre agosto e setembro de 2015, obstetras de Pernambuco começaram a observar o nascimento de bebês com microcefalia, vindos de partos de mulheres que tinham tido infeção pelo Zika Vírus.
Rapidamente, a infecção pelo Zika vírus se tornou uma emergência internacional, como declarado pela Organização Mundial da Saúde em 2016. A epidemia da Zika trouxe algumas questões relevantes, das quais se pode destacar uma. A epidemia não afetou todas as mulheres de forma indistinta. Quem são as mulheres que conceberem filhos com microcefalia? Onde elas residem, como sobrevivem? Por que não puderam evitar o problema? Todos nós sabemos as respostas a essas questões; sabemos também, que desfeita a apreensão com a possibilidade de globalização da doença, a preocupação com suas consequências e com as crianças que dela foram vítimas foi decaindo vigorosamente.
Outros processos epidêmicos também nos lembram como seus contextos de ocorrência alteram drasticamente sua visibilidade e a intensidade de resposta social. É o caso, por exemplo, dos recentes surtos epidêmicos de Ebola e das pandemias de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Severa). e Gripe H1N1. A primeira atinge, desde a década de 1970, diferentes países do continente africano, causando a cada surto maior número de morte e desorganização social. A Sars, também causada por um coronavírus, surgiu na China em 2002 e alcançou o status de pandemia, pelos critérios da OMS, no ano seguinte. A gripe H1N1 grassou de forma pandêmica entre 2009 e 2010. As duas últimas, embora apresentem menor letalidade que o Ebola, devido a sua maior capacidade de difusão global, geraram esforços nacionais e globais mais rápidos e de maior dimensão. Basta dizer que tais esforços resultaram no desenvolvimento de vacinas para as duas últimas, enquanto os esforços para reforçar os sistemas de saúde locais no sentido de impedir novos surtos de ebola ainda se mostrem muito insuficientes.
Em janeiro desse ano, uma nova epidemia se instalou na província de Wuhan, na China. Causada por um novo tipo de corona vírus (Sars-CoV-2) a doença, que passou a ser conhecida como Covid-19, produz sintomas próximos ao da gripe, mais intensos e muitas vezes letais, se disseminou rapidamente. Em dezembro do ano passado, a OMS decretou emergência internacional em virtude do alastramento da doença para outros países, e em março, a mesma instituição caracterizou a situação como uma pandemia. No momento que escrevemos, o novo coronavírus já afetou fortemente muitos países, em quatro continentes, causando mais de 18 mil mortes.
Um estudo liderado pelo Imperial College de Londres e realizado em parceria com diversas instituições, divulgado no dia 27 de março, fez projeções para o cenário pandêmico em diferentes cenários, levando em consideração a aplicação ou não de ações de mitigação e de supressão para o controle do contágio. Os cálculos projetam, para o Brasil, a possibilidade de quase um milhão e meio de mortes, e de até 80% da população infectada. Ainda não se sabe a extensão do problema em que nos encontramos, mas seus desdobramentos sociais serão gigantescos.
O ponto comum aos processos pandêmicos/epidêmicos mencionados e aos debates sobre as transições demográfica e epidemiológica é que o pensamento sobre população deve levar em consideração as desigualdades e iniquidades em saúde. Diferente do que algumas pessoas propagam pelas redes sociais, as doenças não são democráticas. Toda doença é, ao mesmo tempo, um fenômeno biológico e social, sem separação, e as desigualdades existentes na sociedade muitas vezes se manifestam através das epidemias.
A emergência e re-emergência de doenças infecciosas não mostra somente como a expectativa de erradicação de todas as enfermidades através da expertise médica é uma utopia, mas também como é necessário que a saúde populacional, dos níveis locais ao global, precisa ser encarada em sua complexidade. Nesse sentido, o fortalecimento de ações de promoção de saúde e prevenção, educação, melhoramento das condições de vida, é fundamental para que não nos peguemos sempre em cenários desesperadores a cada nova epidemia. Epidemias sempre continuarão a surgir, mas a forma de lidar com elas pode mudar.