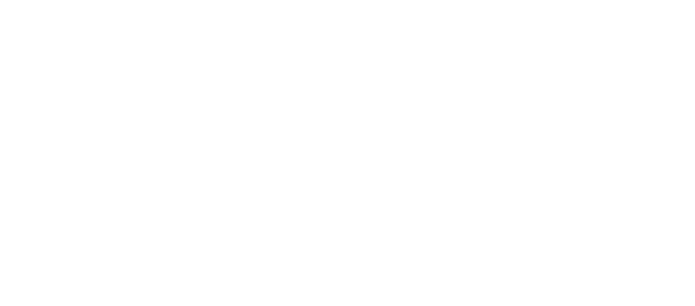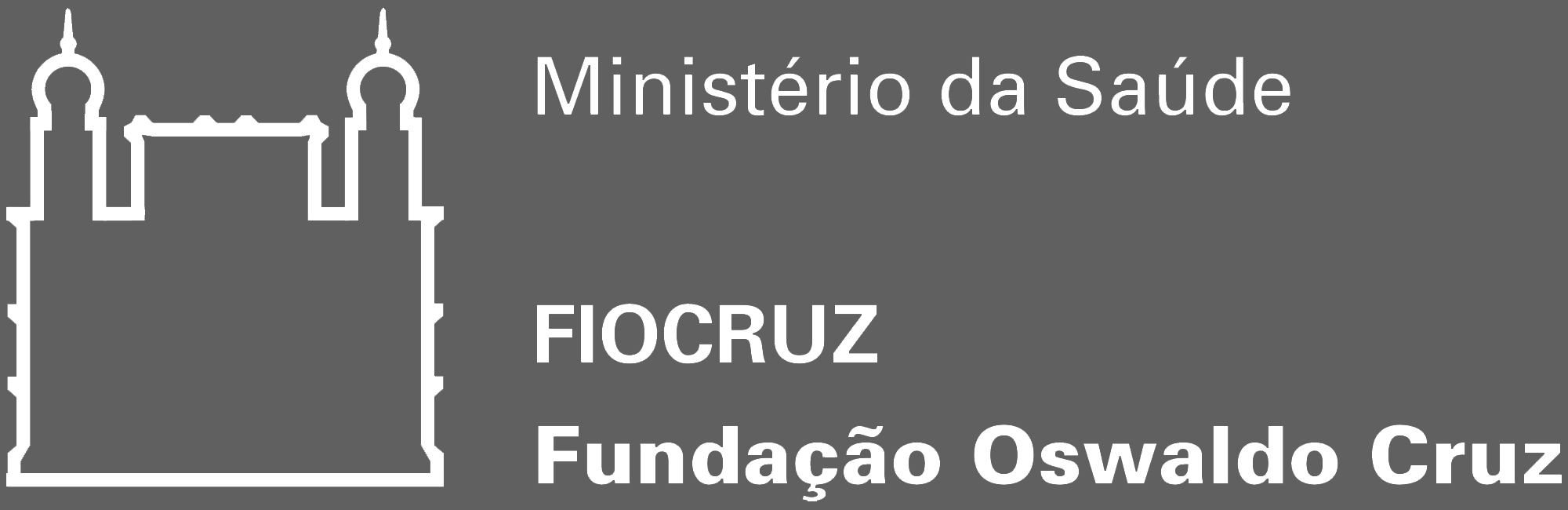Por Carolina Vaz
Fernando Pires-Alves foi um dos fundadores do Observatório História e Saúde, no ano de 2004. Historiador formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) e doutor em História das Ciências e da Saúde pela Fiocruz, Fernando Pires-Alves integrou a equipe fundadora da Casa de Oswaldo Cruz em meados dos anos 1980. Nos seus primeiros anos de atividade trabalhou no Departamento de Arquivo e Documentação da COC que chefiou em duas oportunidades; no final dos anos 1990 até 2005, atuou como vice-diretor da COC, durante a gestão de Nísia Trindade. Em 2004, assumiu a coordenação do Observatório História e Saúde.
No Observatório, compôs a equipe de projetos diversos, pesquisando temas como a história da cooperação técnica entre OPAS e Brasil na formação de recursos humanos; das políticas de saúde e da relação entre saúde e desenvolvimento, sendo coautor, junto a Carlos Henrique Assunção Paiva, do livro Atenção primária à saúde: uma história brasileira e de artigos e capítulos sobre informação científica e tecnológica em saúde, cooperação internacional em saúde; políticas de saúde no Brasil e de formação de recursos humanos em saúde.
Nesta entrevista, ele comenta a criação do Observatório e perspectivas para a sua atuação.
Fernando, como surgiu a ideia de criar uma estação de trabalho da Rede ObservaRH na Casa de Oswaldo Cruz? Qual era o contexto institucional e político mais geral em que se situa essa criação, em 2004?
A criação do Observatório História e Saúde corresponde aos primeiros anos do primeiro governo Lula, quando, no campo da educação e do trabalho em saúde, houve um movimento de retomada da iniciativa de criação e funcionamento de uma rede nacional de observatórios de recursos humanos em saúde. Isso abriu a possibilidade de entendimentos com a OPAS Brasil, que na época era a instituição que apoiava a coordenação da rede de observatórios, concentrando os recursos de financiamento. Então, foi possível estabelecer tratativas entre José Paranaguá de Santana, que era coordenador da área de recursos humanos da OPAS no Brasil, e Nísia Trindade, que era, na época, a diretora da Casa de Oswaldo Cruz. Eu, como vice-diretor, participei desses entendimentos, junto com outras figuras da Casa.
Do ponto de vista da OPAS, havia o interesse em valorizar a memória e a história das iniciativas de cooperação no campo de recursos humanos que já vinham sendo feitas pela organização e o governo brasileiro desde muito tempo. Mais do que ser receptiva, a OPAS ajudou a formular a ideia, um tanto inovadora, num certo sentido, até um pouco estranha, de você incorporar uma estação de trabalho de história no âmbito de uma rede de observatórios cuja tarefa era apoiar a formulação e análise das políticas de recursos humanos contemporâneas. Do ponto de vista da Casa de Oswaldo Cruz, a ideia era então aproveitar qualquer oportunidade que permitisse aproximar o campo da história da saúde das políticas de saúde, dos processos contemporâneos de formulação e de avaliação de políticas. Essa possibilidade de trabalhar num terreno de recursos humanos nos pareceu extremamente oportuna, porque significava que a gente não só estava se aproximando de uma política pública relevante do ponto de vista de uma agenda brasileira de saúde, mas também dos processos de formação dos trabalhadores.
Esses objetivos que você comenta partem também de uma compreensão de que o trabalho do profissional de História não fica no passado, certo? Ele tem uma relevância para o tempo presente.
Essa perspectiva já vem acompanhando a criação da Casa de Oswaldo Cruz desde o início, desde a sua fundação. Eu não diria que estava se inaugurando um novo entendimento sobre a História, talvez uma sensibilidade maior. (…) Nos primeiros anos da reforma sanitária brasileira esse sentimento de construção de uma agenda nova no país estava “no palco”. Esse espírito favorece a que se pense processos históricos de uma maneira mais interessante. E, nesse sentido, havia uma sensibilidade para a ideia de que o conhecimento histórico pudesse iluminar as agendas contemporâneas. Agora, isso nunca foi um pensamento absoluto. Era uma militância nossa mesmo, da história da saúde, de se fazer presente e se fazer audível no terreno das políticas públicas.
Como o senhor descreveria a primeira década de funcionamento do Observatório? Quais foram os diálogos com os campos, tanto da política de educação e trabalho em saúde quanto as políticas de saúde em geral nesses primeiros dez anos?
Eu diria que os primeiros anos foram de tentativa de criação de uma agenda que pudesse aproximar o conhecimento histórico desse campo de formulação de políticas. Então, nós imaginamos a possibilidade de ter uma base de informação sobre a produção historiográfica referida a processos temporais mais longos, ou seja, pensávamos como tornar acessível a produção já existente sobre a história dos recursos humanos em saúde, a política do trabalho e coisas desse tipo. (…) Outra atuação foi na produção de materiais paradidáticos, que pudessem ser utilizados nos processos de formação dos trabalhadores. Por exemplo, a obra Na Corda Bamba de Sombrinha: a saúde no fio da história, que foi muito utilizada por vários grupos, para vários processos formativos.
Como o senhor avalia a trajetória da disciplina de História no campo da saúde pública e coletiva? Quais desafios identifica e o que acha que falta ser estudado, olhando inclusive para o OHS?
Já há algum tempo afastado, eu não me sinto à vontade para fazer um balanço tão abrangente. Talvez o que eu poderia sugerir como uma certa orientação para o comportamento institucional do Observatório seria a de reforçar a ideia de militância. Por que militância? Porque essa proximidade entre história e políticas públicas nem sempre é fácil de construir. E também, por outro lado, ela não é exatamente uma novidade, porque as abordagens de política pública sempre remetem a algum ponto no passado para construir uma dada avaliação, uma dada argumentação que sustente a concepção de uma política. (…) Então, o que a história pode fazer aí é uma contribuição, num certo sentido, sempre acessória mas relevante, que alongue temporalmente essa perspectiva. Menos uma abordagem no tempo passado imediato, e mais a ideia da construção e da visibilidade de processos históricos um pouco mais longos no tempo. E isso é uma contribuição para a formação de uma certa cultura política em saúde.
Como o senhor vê alguns movimentos e pesquisa de revisionismo histórico da Medicina? Por exemplo, os que jogam olhar crítico sobre como a Medicina historicamente tratou as mulheres, pessoas negras em gerais, etc.
Todos nós temos como origem um certo viés crítico aos processos de produção de conhecimento e às práticas da medicina, da indústria farmacêutica, etc. Isso está presente no debate sobre saúde e sobre conhecimento desde, tranquilamente, a década de 1950, os anos de 1960.. essa crítica é incorporada, já faz parte dos processos reformistas em saúde que atravessaram o final do século XX. Se você pegar, por exemplo, o debate antimanicomial, ele não é outra coisa que não exatamente isso. Isso só pra gente estar no território da saúde mental. Portanto, eu acho que essa tensão entre conhecimento e certas práticas, em última instância, manipuladoras dos indivíduos, das individualidades e das potencialidades humanas, isso está sempre presente. O que é diferente de um certo revisionismo, do ponto de vista da produção do conhecimento, que tem mais a ver com o debate entre esquerda e direita de aproximar as agendas políticas contemporâneas. Isso é de outra natureza, esse é um debate que tem um corte mais reacionário do ponto de vista civilizatório. Isso nos interessa considerar como os adversários ideológicos relevantes.
Também gostaria de saber a sua opinião sobre os recentes movimentos de negacionismo da ciência, até mesmo da saúde preventiva, que vimos nos últimos anos.
Eu acho que as conexões entre o campo científico e a sociedade, em geral, elas estão extremamente frágeis, quando não corrompidas. De tão frágeis, de tão esgarçadas, elas simplesmente não funcionam. Então o debate na sociedade sobre ciências, sobre ciências da saúde, ele está imerso nessa balbúrdia das várias vozes, das várias formulações que permeiam o campo comunicacional atual, sobretudo pelas chamadas mídias sociais. E se a gente olhar para esse campo (…) a gente vê que a divulgação científica, a popularização de ciência, ela é fragilíssima, embora haja várias iniciativas relevantes, no ponto de vista da criação de museus de ciência, centros de ciência, casas de ciência… São relevantes sem dúvida alguma, um patrimônio que a gente deve fortalecer e apoiar, mas talvez eles estejam assentados em práticas, em processos que já foram superados no campo da formação de uma certa opinião pública. E esses processos internos de difusão, de comunicação com a sociedade, precisam ser reavaliados, sob o risco de se perder uma batalha central civilizatória, que é a ideia do valor intrínseco da ciência como aquisição humana. E de como isso é fundante da vida. A ideia de que você pode apenas se aproximar das possibilidades de conhecimento, somente a partir do uso e do contato com tecnologia, pura e simplesmente é de uma pobreza assustadora. Enfim, eu acho que essa agenda, ela é um campo de luta, de uma agenda institucional extremamente relevante.
Leia também