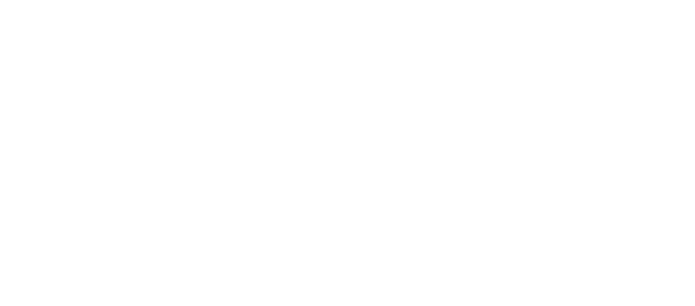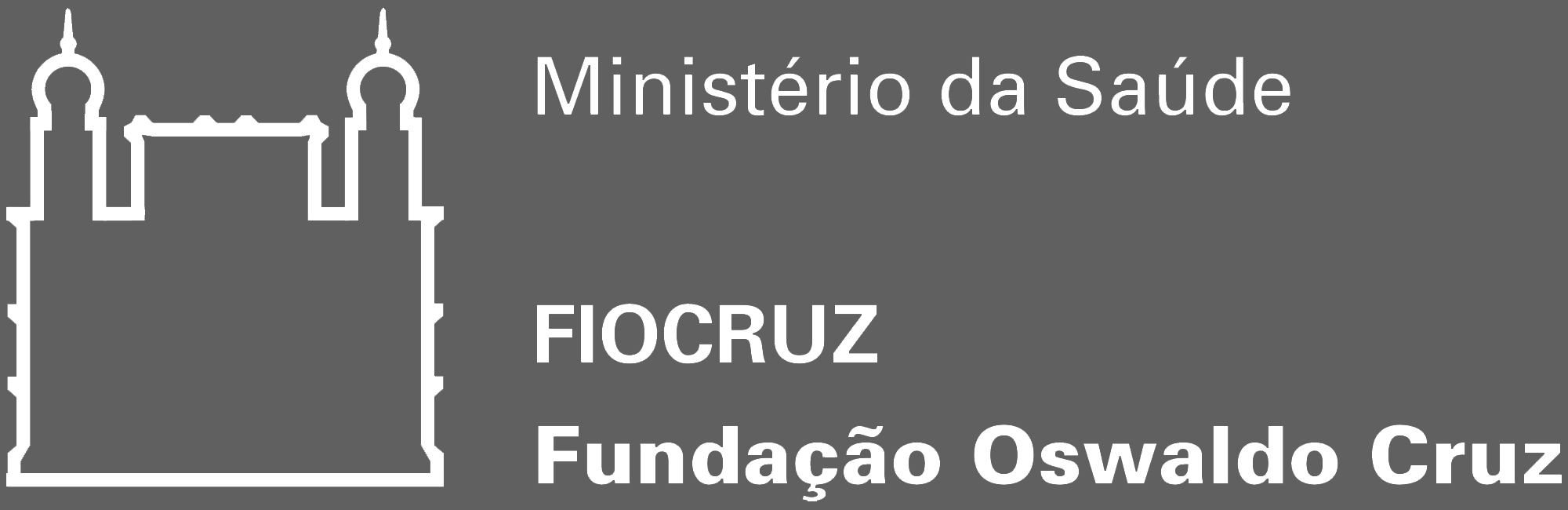Fonte: livro Na Corda Bamba de Sombrinha / Acervo Arquivo Nacional
AS BASES HISTÓRICAS DA SGTES
No final dos anos 1950, Fernand Braudel, à época já um prestigiado historiador francês, nos falava que o tempo não produzia ecos de maneira uniforme. Sob diferentes ritmos, segundo ele, o passado se fazia presente nas instituições e nos modos de vida contemporâneos. Dessa forma, para além dos fatos efêmeros, haveria um tempo duradouro, que se relaciona com aquilo que se estruturava nos modos de pensar e viver e no próprio funcionamento das instituições. Tudo leva a crer que o conceito de “longa duração” de Braudel também se aplica às condições que fizeram emergir, com contornos específicos, uma comunidade de especialistas e instituições em torno da educação e do trabalho em saúde no Brasil. Vejamos.
O fim da II Guerra Mundial imprimiu imensos desafios e disputas em torno da reconstrução de infraestruturas e instituições que fossem capazes de pavimentar um desejado ciclo de prosperidade e de desenvolvimento para o planeta. O tema do desenvolvimento econômico e social passou a ganhar, desde então, alguma prioridade na agenda programática de uma nascente ordem internacional que, polarizada ideologicamente, assoalharia a criação de instituições e o desenvolvimento de ações e políticas que se articulavam com a ideia de “desenvolvimento”.
A Saúde não permaneceria imune às ideias que circularam naquele contexto. A relação entre saúde e desenvolvimento – inclusive os seus componentes de educação e trabalho, como uma temática emergente – foi gradualmente se constituindo como matéria relevante em termos internacionais. Ao “trabalho” como um produtor de renda e desenvolvimento, se juntou uma crescente preocupação com a ampliação da cobertura dos serviços nacionais de saúde. Discussão que mobilizou diferentes instituições internacionais e governos nacionais, repercutiu em diversas estratégias, formulações e agendas programáticas com vistas à ampliação da assistência médica, com destaque para as regiões rurais. De forma articulada ao desafio da interiorização dos serviços de saúde e à própria ideia de desenvolvimento, emergia um paulatino debate com foco na educação médica.
Formar médicos em quantidade e qualidade necessárias foi tema de inúmeros encontros e publicações a partir dos anos 1960. Em meados dessa mesma década, esse movimento crescentemente, convertido em “desenvolvimento de recursos humanos”, impunha uma concepção de ordem estratégica em torno do trabalho e das(os) trabalhadoras(es), com vistas à condução de processos produtivos e de políticas capazes de promover o desenvolvimento social e econômico, que desde então tornavam-se componentes importantes para a configuração de diferentes movimentos de renovação da formação médica e das suas práticas, como era o caso da Medicina Preventiva e Social e de movimentos subsequentes.
A agenda de trabalho instituída nos anos 60 para o ensino médico persistiu ao longo do tempo, deixando importante legado. No final dessa mesma década, por exemplo, vimos o antigo Departamento de Educação e Treinamento da OPAS-Washington se converter, liderado pelo médico e sociólogo argentino Juan Cesar Garcia, em Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, lugar que passa a ter, desde então, importante papel na produção e disseminação de ideias para a educação e trabalho em saúde.
No Brasil, nos marcos de um regime autoritário e desenvolvimentista, os anos 1970 seriam palco de processos importantes para a consolidação de discussões e iniciativas para o chamado desenvolvimento de RH. De um lado, contando com recursos provenientes do II Plano Nacional de Desenvolvimento, vimos emergir ações e políticas de grande envergadura, como foi, a partir de 1976, o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde (PPREPS). Por outro lado, quanto ao enfoque teórico, o mesmo período registra o início de mudanças fundamentais, que fizeram substituir adiante a concepção de “recursos humanos”, compreendida como redutora e instrumental com relação às(aos) trabalhadoras(es), para uma noção que procurava valorizar justamente a dimensão do trabalho como portadora de interesses, volições e conflitos. O sentido desse processo de mudança passa a apontar para uma compreensão em que a trabalhadora e trabalhador se apresentam como sujeitos do seu trabalho.
Ambos os processos, político-institucionais e teórico, se inscrevem na própria dinâmica de luta pela retomada da democracia no país, principalmente, aquela que, orientada pelas discussões da saúde, militou em favor de uma reforma sanitária que instituísse o direito à saúde. Nas palavras de um dos ex-secretários da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), naquele momento:
“os quadros da esquerda da Reforma Sanitária de certa maneira tomam todos os principais postos diretivos na saúde dos quais eu cito, pelo menos, o Hesio Cordeiro no INAMPS, no Rio de Janeiro; Sérgio Arouca na Presidência da Fiocruz; e Saraiva Felipe, na supervisão do INAMPS, que era a Secretaria de Serviços Médicos da Previdência, que era quem no Ministério da Previdência supervisionava o INAMPS”.
Nesse mesmo horizonte, a própria criação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), em 1979, então como uma forma de organização dos programas de pós-graduação no campo da Saúde Pública, da Medicina Social e da Saúde Coletiva, também expressava e promovia uma ampla discussão acerca da organização da saúde pública brasileira. Tomando em perspectiva estritamente o contexto pré-SUS, podemos dizer que junto com o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), a Abrasco passa a ser, ao longo da década de 1980, importante palco de mobilização social em torno de temáticas do campo da saúde, inclusive acerca de suas trabalhadoras e trabalhadores.
No correr da década de 1980, período que assinala a retomada da ordem democrática e a própria construção das bases jurídicas do novo sistema de saúde no país, fomos testemunhas de acontecimentos decisivos, cujas repercussões foram tanto de curto prazo quanto de longo alcance. Em primeiro lugar, no que se refere estritamente ao debate sobre os recursos humanos para a saúde, nos marcos da VIII Conferência Nacional da Saúde, realizou-se em outubro de 1986 a I Conferência Nacional de Recursos Humanos. Organizada a partir dos eixos da educação e do trabalho em saúde, a conferência trouxe contribuições para o debate acerca da valorização da(o) profissional de saúde, considerando as características do mercado de trabalho e uma série de ações e medidas administrativas concretas para os serviços de saúde. Em sintonia com as discussões travadas, pelo menos desde a década anterior, compareceu também nos debates preocupações quanto ao ensino e à educação profissional praticadas no território brasileiro. A conferência, em síntese, apontava para mudanças que se relacionavam, como era de se esperar, com o próprio processo de implantação efetiva do SUS.
Se considerarmos que esses diferentes processos, aqui muito sumarizados, em boa medida, definem as bases teóricas e institucionais de uma nascente comunidade de estudiosos sobre a educação e o trabalho em saúde, podemos afirmar, retomando Braudel, que as raízes que fundam experiências institucionais, como a SGTES, são profundas, uma vez que conformaram, na experiência brasileira, um legado de discussões, de orientações técnicas e doutrinárias, de conhecimentos acumulados, bem como de inovações teóricas que definem, em termos institucionais, a histórica luta pela melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde e, em última análise, da própria qualidade dos serviços de saúde prestados à população brasileira.
COMO CITAR ESTE ARTIGO
Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde. Especial 20 anos da SGTES: as bases históricas da SGTES. In: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Casa de Oswaldo Cruz. Site do Observatório História e Saúde. Rio de Janeiro, s/d. Disponível em: <https://ohs.coc.fiocruz.br/documento_de_trab/especial-20-anos-da-sgtes-as-bases-historicas-da-sgtes/>. Acesso em: dia de mês de ano.